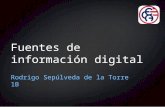Repositório Institucional da ENAP: Página...
Transcript of Repositório Institucional da ENAP: Página...

RSP Revista do Serviço Públicoo
vo l . 58 , n 2 - Abr /Jun 2007 - ISSN:0034-9240
ENAP
O Plano Plurianual: resultados da mais recente reforma do Planejamento e Orçamento no Brasil
Pedro Luiz Cavalcante
Criando valor público por meio de parcerias público-privadasMark Harrison Moore
Legitimidade da liderança no Ministério da Saúde - um ensaioRose Marie Caetano
Saúde do trabalhador: um (não) olhar sobre o servidor público
Tatiana Ramminger e Henrique Caetano Nardi
Vantagens e desvantagens do pregão na gestão de compras no setor público: o caso da FUNASA/PB
Jacqueline Nunes; Rosivaldo de Lima Lucena e Orlando Gomes da Silva
Reportagem: Os direitos invisíveisClaudia Asazu

RSP
ENAP Escola Nacional de Administração Pública
Brasília – 2007

Missão da Revista do Serviço PúblicoDisseminar conhecimento sobre a gestãode políticas públicas, estimular a ref lexãoe o debate e promover o desenvolvimentode ser vidores e sua interação com acidadania.
ENAP Escola Nacional de Administração PúblicaPresidente: Helena Kerr do AmaralDiretor de Formação Profissional: Paulo CarvalhoDiretora de Desenv. Gerencial: Margaret BaroniDiretora de Comunicação e Pesquisa: Paula MontagnerDiretor de Gestão Interna: Lino Garcia Borges
Conselho EditorialBarbara Freitag-Rouanet, Fernando Luiz Abrucio,Helena Kerr do Amaral, Hélio Zylberstajn, LúciaMelo, Luiz Henrique Proença Soares, MarcelBursztyn, Marco Aurelio Garcia, Marcus AndréMelo, Maria Paula Dallari Bucci, Maria Rita G.Loureiro Durand, Nelson Machado, Paulo Motta,Reynaldo Fernandes, Silvio Lemos Meira, Sônia
Miriam Draibe, Tarso Fernando Herz Genro,Vicente Carlos Y Plá Trevas, Zairo B. Cheibub
PeridiocidadeA Revista do Serviço Público é uma publicaçãotrimestral da Escola Nacional de AdministraçãoPública.
Comissão EditorialHelena Kerr do Amaral, Elisabete Ferrarezi, PauloCarvalho, Juliana Silveira de Souza, Claudia YukariAsazu, Mônica Rique Fernandes, Livino Silva Neto,Sérgio Grein Teixeira.
ExpedienteDiretora de Comunicação e Pesquisa: Paula Montagner –Editoras: Claudia Yukari Asazu e Larissa Mamed Hori– Coordenador-Geral de Editoração: Livino Silva Neto –Revisão gráfica: Ana Cláudia Borges – Revisão: LarissaMamed Hori e Roberto Carlos Araújo – Colaboração:Juliana Silveira de Souza – Projeto gráfico: Livino SilvaNeto – Editoração eletrônica: Maria Marta da RochaVasconcelos.
© ENAP, 2007Tiragem: 1.000 exemplaresAssinatura anual: R$ 40,00 (quatro números)Exemplar avulso: R$ 12,00Os números da RSP Revista do Serviço Público anterioresestão disponíveis na íntegra no sítio da ENAP:www.enap.gov.br
As opiniões expressas nos artigos aqui publicados sãode inteira responsabilidade de seus autores e nãoexpressam, necessariamente, as da RSP.
A reprodução total ou parcial é permitida desde quecitada a fonte.
Revista do Serviço Público. 1937 - . Brasília: ENAP, 1937 - .
v. : il.
ISSN:0034/9240
Editada pelo DASP em nov. de 1937 e publicada no Rio de Janeiro até 1959. A periodicidade varia desde o primeiro ano de circulação, sendo que a partir dos últimosanos teve predominância trimestral (1998/2007). Interrompida no período de 1975/1980 e 1990/1993.
1. Administração Pública – Periódicos. I. Escola Nacional de Administração Pública.CDD: 350.005
Fundação Escola Nacional de Administração PúblicaSAIS – Área 2-A70610-900 – Brasília - DFTelefone: (61) 3445 7096 / 7092 – Fax: (61) 3445 7178Sítio: www.enap.gov.brEndereço eletrônico: [email protected]
ENAP

SumárioContents
O Plano Plurianual: resultados da mais recente reforma doPlanejamento e Orçamento no Brasil 129The Pluri-anual Plan: results from the latest planning and budgetreform in BrazilPedro Luiz Cavalcante
Criando valor público por meio de parcerias público- privadas 151Creating public value through public-private partnershipsMark Harrison Moore
Legitimidade da liderança no Ministério da Saúde – um ensaio 181Authenticity of leadership in the Brazilian Ministry of Heath –a case studyRose Marie Caetano
Saúde do trabalhador: um (não) olhar sobre o servidor público 213Worker’s health: a (absent) regard on the public sector workerTatiana Ramminger e Henrique Caetano Nardi
Vantagens e desvantagens do pregão na gestão decompras no setor público: o caso da Funasa – PB 227Advantages and disadvantages in reverse auction: thecase of FUNASA/PBJacqueline Nunes; Rosivaldo de Lima Lucena e Orlando Gomes da Silva
Reportagem: Os direitos invisíveis 245Claudia Asazu
RSP Revisitada: Ciências e arte de educar 249Anízio Teixeira
Para saber mais 261
Acontece na ENAP 262

128

RSP
129
Pedro Luiz Cavalcante
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 129-150 Abr/Jun 2007
O Plano Plurianual:resultados da mais recentereforma do Planejamento e
Orçamento no Brasil
Pedro Luiz Cavalcante
Introdução
Allen Shick, em Conflitos e soluções no orçamento federal (2006), define o
orçamento como um processo alocativo no qual nunca há recursos suficientes
para serem distribuídos. É um processo de escolha entre as diversas reivindicações
de recursos públicos que, mesmo nas melhores épocas, não são suficientes para
cobrir todas as demandas. O governo, de forma expressa ou indireta, decide
sobre o papel que deve desempenhar e define prioridades. Desse modo, elaborar
o orçamento federal é uma tarefa extremamente complexa, que se caracteriza
como um processo tenso e controverso, pois existem diversas questões em jogo,
logo, inúmeros atores e interesses são afetados pelas decisões orçamentárias.
Por essas particularidades, o uso de procedimentos, em que prevalece a ordem
mitigada, surge como forma de organizar os conflitos e acrescentar racionalidade
e eficiência ao processo orçamentário público.

RSP
130
O Plano Plurianual: resultados da mais recente reforma do Planejamento e Orçamento no Brasil
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 129-150 Abr/Jun 2007
Nesse sentido, a Constituição Federalde 1988, especificamente em seu artigo 165,criou um conjunto de normas complexaspara regulamentar o processo orçamen-tário federal com a introdução de novosinstrumentos legais, a saber: o PlanoPlurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orça-mentárias (LDO) e a Lei OrçamentáriaAnual (LOA).
O Plano Plurianual, em especial,consiste na principal ferramenta para aimplementação do planejamento nasatividades governamentais de médio e longoprazo. O Plano possui um papel de coorde-nador das ações do governo federal,podendo subordinar aos seus propósitostodas as iniciativas que não tenham sidoprevistas no começo do processo (GARCIA,2000). Ele estabelece diretrizes, objetivos emetas da administração pública federal porum prazo de quatro anos. As equipessetoriais, sob a coordenação do Ministériodo Planejamento, Orçamento e Gestão(MP), formulam os programas definindoos seus atributos (objetivos, público-alvo,indicadores, metas, etc). É o conjunto dessesprogramas que constitui o Plano. Após aconsolidação no âmbito do PoderExecutivo, a peça orçamentária é subme-tida à apreciação do Congresso Nacional,dentro dos prazos constitucionais.
A despeito da sua importância naConstituição Federal, no decorrer dasdécadas de 1980 e 1990, o planejamentofoi preterido por políticas de curto prazo.Salienta-se a predominância, na agendagovernamental, do debate acerca docombate inflacionário e da redefinição dopapel do Estado, este último altamenteinfluenciado por transformações macro-econômicas na economia mundial (SOUZA, 2004).
Formalmente, a concepção do PlanoPlurianual envolve a orientação para a
alocação dos recursos públicos de modoeficiente e racional, com base na utilizaçãode modernas técnicas de planejamento. Aconcepção apóia-se nas definições dasdiretrizes, metas e objetivos nas quais aadministração pública desenvolveria suasações voltadas ao desenvolvimento do País.
O primeiro PPA, elaborado no iníciodo governo Fernando Collor, teve vigênciaentre os anos de 1991 e 1995. Esse planoé considerado um fracasso do ponto devista do planejamento e da gestão orça-mentária (GARCIA, 2000). Ressalta-se,entretanto, que o período foi marcado pelainstabilidade econômica e, principalmente,política, que culminou no impeachment dopresidente.
O plano seguinte, Brasil em Ação(1996-1999), é visto como uma expe-riência-piloto de gerenciamento numcontexto de maior estabilidade econômica.Aprovado pela Lei n° 9.276, de 10 de maiode 1996, o plano, primeira aproximaçãoentre planejamento e gestão orçamentária,propunha administrar de forma coorde-nada um conjunto de 42 empreendimentosestratégicos distribuídos nas áreas social, dedesenvolvimento econômico e de infra-estrutura. As principais inovações foram:a criação dos gerentes de empreendimento,do sistema de informações gerenciais(monitoramento mais sistematizado e comtratamento diferenciado em termos deexecução orçamentária), do controle defluxo financeiro e da gestão de restrições(BRASIL, 1996; GARCES; SILVEIRA, 2002).
Apesar da experiência-piloto terinserido tais inovações, Ataíde (2005)salienta duas dificuldades centrais naimplementação do Plano Brasil em Ação:a primeira relacionada à desintegraçãoorganizacional entre a área responsávelpela modernização, comandada à épocapelo Ministério de Administração e

RSP
131
Pedro Luiz Cavalcante
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 129-150 Abr/Jun 2007
“Embora maisefetiva, transparentee democrática, agestão pública porresultados envolveprocessosaparentementemais complexosdo que a gestãohierárquicatradicional”.
Reforma do Estado (MARE), e a respon-sável pelo planejamento e orçamentofederais, de responsabilidade do Ministériodo Planejamento e Orçamento (MPO); asegunda dizia respeito à limitada capaci-dade do governo em acompanhar sua ação,fragilizada pela incompatibilidade delinguagem e de metodologias empregadasnos sistemas de planejamento e deorçamento.
De acordo com Garcia (2000), o PPA1996-1999, apesar de possuir um discursoaudacioso, não passou de um planoeconômico normativo de longo prazo. Aelaboração do Plano não conseguiu articularprojetos e atividades orçamentárias àsintenções do governo. Esse PPA nemchegou a ser objeto de avaliação, uma vezque lhe faltavam instrumentos de sistemasde monitoramento e avaliação efetivos.Outro aspecto relevante foi a extremapreocupação com a questão fiscal, o quediminuiu a importância da prática do plane-jamento na agenda governamental.
Em seguida, a partir do PPA 2000-2003, inicia-se a mais nova transformaçãodo processo orçamentário brasileiro,influenciada pela Nova AdministraçãoPública (New Public Management) ouGerencialismo1. Em termos gerais, aproposta de reforma, denominadaReforma do Planejamento e Orçamento,indica a superação do orçamento orientadopara o controle dos gastos e direciona-sea um enfoque na produção pública, coma busca sistemática de resultados especí-ficos, dentro de um processo contínuo deintegração entre orçamento e plane-jamento (CORE, 2004). Nesse contexto, aavaliação é peça-chave na consecução dosobjetivos de uma gestão voltada paradesempenho ou resultados.
Este artigo pretende debater asinovações introduzidas pelas experiências
recentes do Plano Plurianual e da propostado próximo plano (2008-2011), bemcomo analisar em que medida a reformatrouxe melhorias ao processo orçamen-tário. Para tanto, faz-se mister discernir,inicialmente, sobre o modelo deorçamento por resultados (performancebudget) que balizou de forma significativao desenho e a implementação do novomodelo do PPA.
Orçamento por resultados:conceitos e origem
O debate acerca do orçamento porresultados ou por desempenho, chamadoem inglês de performance budget, apresentaalgumas conceituações com pequenasdiferenças. Brumby e Robinson (2005)enfatizam a questão da eficiência alocativa

RSP
132
O Plano Plurianual: resultados da mais recente reforma do Planejamento e Orçamento no Brasil
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 129-150 Abr/Jun 2007
e produtiva dos recursos públicos funda-mentada em uma base de informações dedesempenho, da seguinte forma:
“Os procedimentos ou mecanismosque procuram fortalecer os elos entreos recursos aplicados pelo setorpúblico e seus resultados ou produtosatravés do uso de informaçõesformais (indicadores de resultados) dedesempenho na tomada de decisãoalocativa de recursos” (2005, p. 5).
Na conceituação da Organização paraCooperação do Desenvolvimento Econô-mico (OCDE)2, o orçamento por resul-tados é a forma de orçamento que rela-ciona recursos alocados e resultadosmensuráveis, sendo a redução da centrali-zação e do controle na gestão orçamentáriaquestões fundamentais.
As origens do orçamento por resul-tados nos remetem ao modelo Planning,programming and budgeting systems (PPBS)desenvolvido em meados da década de60 pelo governo norte-americano. A partirdele se originaram o program budgeting, outputbudget e, finalmente, performance budget, quemais se assemelha com as definiçõesapresentadas acima (DIAMOND, 2003a).
O PPBS consiste em um completosistema de orçamentação elaborado noDepartamento de Defesa estadunidenseno início dos anos 1960 que, posterior-mente, expandiu-se para as demais agênciasgovernamentais, governos subnacionais ealguns países (DIAMOND, 2003b). Como onome já diz, defende-se a integração doplanejamento com o orçamento por meiode programas. A primeira fase procuraidentificar os objetivos atuais e futuros nosentido de descobrir as maneiras de sealcançá-los. A fase de programação visainserir o planejamento dentro de
programas hierarquizados por prioridadesa serem definidas por tomadores dedecisão, nos distintos níveis de hierarquiapolítica. Por fim, a fase da orçamentaçãoconsiste na tradução de cada programamulti-anual em uma série de ações anuais,determinando os responsáveis pelas tarefase os respectivos recursos necessários.
A partir de 1971, o sistema começoua ser abandonado em decorrência deinúmeras críticas. Apesar de parecer simples,o modelo apresentou problemas, princi-palmente em relação às tomadas de decisãodos superiores. A ausência de uma liderançaou de um empreendedor que conduzisseo processo de reforma prejudicou a suaplena implementação.
Entretanto, segundo Diamond(2003b), o PPBS continuou sendo utilizadonos Estados Unidos de forma menosambiciosa, bem como em outros países.Ademais, como herança desse modelo, odesenvolvimento de indicadores de desem-penho e de custos do sistema de prestaçãode contas e de informação persistiu. Issoinfluenciou na consolidação do queconvém ser chamado de orçamento-programa.
Com forte apoio da Organização dasNações Unidas (ONU), o orçamento-programa se expandiu para as nações emdesenvolvimento nos anos 1960 como útilferramenta para o desenvolvimento doplanejamento. Contudo, como pré-requisito para o seu sucesso, algumascondições eram necessárias, tais como:disciplina fiscal, métodos eficientes demensurar e arquivar informações físicas efinanceiras e, ainda, coordenação entre aagência de orçamento e outros órgãosgovernamentais. Isso, comprovadamente,não condizia com a conjuntura daquelespaíses no período (CAIDEN; WILDAVSKY,1974).

RSP
133
Pedro Luiz Cavalcante
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 129-150 Abr/Jun 2007
De acordo com Wildavsky (1982), nãoexiste uma definição padrão para orça-mento-programa. O ponto central é queas decisões orçamentárias devem serdirecionadas para resultados (outputs),como metas governamentais, objetivosfinais ou programas, ao invés de inputs(pessoal, equipamento e manutenção). Parao autor, assim como na análise do custo-benefício, o orçamento-programa enfatizaa estimativa do custo financeiro total parase alcançar os resultados pretendidos.
A partir dessa configuração de orça-mento-programa, Diamond (2003b) argu-menta que foi criada a base para aintrodução da nova gestão baseada nodesempenho (performance-based management)no início dos anos 1990. Nesse contexto,o orçamento passa a ser cada vez maisdirecionado aos resultados referenciadospelo uso de informações de desempenho.
Fortemente influenciado pela onda daNova Administração Pública, queculminou em movimentos reformistas emdiversos países desenvolvidos, entre eles,Nova Zelândia, Austrália e Reino Unido,o foco nos resultados também atingiu adiscussão do orçamento do governonorte-americano. Em termos gerais, areforma preconizava o aumento daflexibilidade gerencial das agências, aintrodução de contratos de gestão e autilização de princípios da iniciativa privadana condução da política orçamentária. Porconseqüência, surge o denominado NovoOrçamento por Desempenho (NewPerformance Budget), que se sustenta nosseguintes elementos (DIAMOND, 2003b):
• unificação de todos os custos parase alcançar um resultado determinado,independente do número de agênciasenvolvidas na sua produção;
• ênfase no custo total, incluindodespesas gerais;
• definição de resultados em termosde indicadores mensuráveis e avaliação daqualidade de bens e serviços providos;
• comparação com o real resultadopara atingir eficiência e efetividade;
• incorporação de medidas explícitasde desempenho e de sistema avaliativo dodesempenho;
• inclusão de alto grau de accountability3
com mecanismo de premiações e punições.A premissa base do orçamento por
resultados, logo, estabelece que o desem-penho é importante; todavia. deve estarintegrado a um sistema de accountabilitycapaz de premiar os bons resultados epunir os maus. A abordagem, apesar demais abrangente que o orçamento-programa, não culmina na efetivaintegração a um modelo de gestãoorçamentária. Isto é, a simples introduçãodos elementos supracitados dificilmentetem atingido o objetivo principal domodelo: melhoria da efetividade eeficiência dos gastos.
É evidente a tentativa de ruptura coma prática cotidiana do orçamento incre-mentalista, ou seja, tomada de decisõesfundamentadas em ajustes marginais,baseados nas dotações dos exercíciosanteriores, sendo os problemas atacadosde forma repetitiva (DAVIS et al., 1966).Embora essa não seja uma peculiaridadeexclusiva dos países emergentes, nesses asimplicações são mais perversas.
O incrementalismo no processoorçamentário brasileiro possui inúmerascausas, tais como a ausência de informaçãoconfiável, compromissos fiscais e incertezaquanto às receitas. No entanto, o fatorcentral está relacionado à sua rigidez. Essacaracterística é resultado do acúmulo depressões sobre o orçamento que seoriginam dos seguintes fatores: compro-missos financeiros acumulados no passado;

RSP
134
O Plano Plurianual: resultados da mais recente reforma do Planejamento e Orçamento no Brasil
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 129-150 Abr/Jun 2007
direitos assegurados em lei a grupos sociaismais bem organizados; regras que estabe-lecem os mecanismos de transferências derecursos fiscais na Federação e as garantiasinstituídas com respeito ao financiamentode determinados programas governamen-tais – as vinculações de receitas (CUNHA;REZENDE, 2003).
Novamente, isso não é exclusividadebrasileira, como bem ressalta Shick (2006)ao analisar o caso norte-americano. Namedida em que se aumentou o tamanho ea abrangência do orçamento, ele tornou-se menos flexível e mais restritivo.
Portanto, a tentativa de ruptura docaráter incremental do orçamentoperpassa a valorização do principal instru-mento do modelo de orçamento porresultados: a avaliação.
Na concepção da avaliação por resul-tados, os indicadores de desempenhoexercem um papel basilar dentro domodelo. As funções dos indicadores dedesempenho vão desde monitorarmudanças, identificar problemas,potencializar e exercer ações corretivas sobresponsabilidade dos gestores, influenciarcomportamento da equipe, medir rendi-mento e traçar comparação com outrasagências, como também transmitircredibilidade e confiança aos contribuintes(DIAMOND, 2005). Assim, o modelo deorçamento por resultados deve ser vistocomo um método integrado de alocaçãode recursos, no qual os indicadores devemestar integrados a todo o sistema. O uso deindicadores de desempenho melhora acomunicação dentro do governo, avança nasdiscussões sobre os resultados das suas açõese serviços e ilumina decisões orçamentárias,provendo informações adicionais e rele-vantes (MELKERS; WILLOUGHBY, 1999).
É notória a existência de problemas emrelação à utilização de indicadores de
desempenho, principalmente porque elesnão devem ser vistos como um fim em simesmo, mas como parte de um amploprocesso avaliativo. Dentre os principaisriscos, destacam-se a excessiva confiança nosindicadores de desempenho sem a necessi-dade de uma avaliação mais abrangente, ouso de indicadores inapropriados, o mauuso e o perigo da informação exagerada eda falta de seletividade (DIAMOND, 2005).
O Plano Plurianual, a partir de 2000,introduz a avaliação anual do plano e dosprogramas, incluindo a atualização deindicadores de desempenho para as suasações, conforme relata Pares e Valle:
“As atividades de monitoramento eavaliação das políticas e programasassumem caráter estratégico paraconferir maior qualidade ao gastopúblico e otimizar a obtenção deresultados no setor público... estasatividades fazem parte do ciclo de gestãodo PPA desde 2000. (2006, p. 235)
Assim, passamos a analisar o PPA, maisespecificamente o Plano anterior (2000-2003), o vigente (2004-2007) e a propostado PPA 2008-2011, com vistas a compararem que medida a sua arquitetura seaproxima do modelo de orçamento porresultados e se ela contribui para oaprimoramento do processo orçamentáriono País.
O novo Plano Plurianual
PPA 2000-2003 (Avança Brasil)Conforme já mencionado na intro-
dução, as experiências anteriores ao PPA2000-2003 acrescentaram algumasinovações ao seu desenho, porém, nãoforam bem sucedidas tanto na promoçãoda integração do planejamento e do

RSP
135
Pedro Luiz Cavalcante
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 129-150 Abr/Jun 2007
“A prática deavaliação fortaleceo planejamento e aaprendizagem nasorganizaçõesgovernamentais,mediante a geraçãode informaçõesqualificadas sobreos resultadosalcançados”.
orçamento quanto na introdução de umsistema efetivo de avaliação das açõesgovernamentais. O PPA 1996-1999 nemchegou a ser objeto de avaliação, uma vezque lhe faltavam instrumentos de monito-ramento e avaliação.
Entretanto, a necessidade de umareforma orçamentária vinha sendodebatida no governo desde 1996 e foiapresentada na proposta do PPA 2000-2003, denominado Avança Brasil.
Essa reforma ficou conhecida comoReforma Gerencial dos Processos dePlanejamento e Orçamento e se apresentoucomo uma conseqüência direta do movi-mento de reforma gerencial iniciado noâmbito federal a partir de 1995: “a verdadeé que somente com o PPA 2000-2003 ecom o orçamento do ano de 2000 é quefoi possível proceder-se à adequação doprocesso orçamentário às exigências de umaadministração gerencial e voltada pararesultados (CORE, 2004, p.15)”.
As três funções básicas do processoorçamentário são: planejamento, gerênciae controle. Com o PPA 2000-2003,procurou-se reavaliar essas funções e,seguindo a abordagem gerencial, promoverequilíbrio entre elas, além de consolidar avisão de um orçamento moderno com ofoco nos resultados. Recordando quedentre essas três funções, o controle temprevalecido historicamente na práticaorçamentária brasileira.
Nesse contexto, a Lei de Responsabi-lidade Fiscal – LRF (Lei Complementarnº 101/2000) – é instituída. A LRF estabe-leceu importantes critérios para que fosseadotada uma metodologia mais rígida noprocesso orçamentário, visando à imple-mentação efetiva de um regime de disci-plina fiscal agregada. Se, por um lado,alguns especialistas argumentam que a lei éum complemento ao PPA no que tange
ao planejamento fiscal e um elementoindispensável ao plano, outros discordam,alegando que a norma é uma lei de controlee que reforçou a situação de desequilíbrioentre as três funções básicas do processoorçamentário.
No que tange à integração entre orça-mento e planejamento, o PPA procurasuperar a dicotomia estrutural entre osmódulos do plano e os do orçamento,mediante a utilização de um único módulo
integrador do plano com o orçamento, ouseja, o programa, conforme descriçãoabaixo dos idealizadores do novo Plano(GARCES; SILVEIRA, 2002):
“Em termos de estruturação, oplano termina no programa e o orça-mento começa no programa,conferindo uma integração desde aorigem, sem necessidade de buscar-se

RSP
136
O Plano Plurianual: resultados da mais recente reforma do Planejamento e Orçamento no Brasil
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 129-150 Abr/Jun 2007
compatibilização entre módulosdiversificados. O programa comoúnico módulo integrador e os projetose atividades como instrumentos derealização dos programas que devemresultar em produtos, com metascorrespondentes aos recursos alocados,requisitos para a gestão de um orça-mento por programa ou por resul-tados” (2002, p.58).
O Plano Plurianual 2000-2003 se iniciacom a aprovação da Lei no 9.989, de 21de julho de 2000, que determina o enviodo Relatório Anual de Avaliação aoCongresso Nacional até o dia 15 de abrilde cada exercício. A Secretaria de Planeja-mento e Investimentos Estratégicos doMinistério do Planejamento (SPI/MP) é aresponsável pela definição da metodologiada avaliação e pela sistematização doprocesso.
O PPA 2000-2003 consiste naconjunção de todas as atividades doGoverno Federal em 365 programas, quepassam a ser referência para a formulaçãodos orçamentos anuais. Os programas sãoum desdobramento operacional dasOrientações Estratégicas do Presidente4
com macroobjetivos formulados a partirdo estudo dos Eixos Nacionais deIntegração e Desenvolvimento5.
O Decreto no 2.829, de 29 de outubrode 1998, e a subseqüente Portaria no 117,de 12 de novembro de 1998, criaram asbases legais para a última reforma doprocesso orçamentário brasileiro. Demodo geral, a legislação determina que oprograma seja a forma básica de integraçãoentre o plano e os orçamentos. Concei-tualmente, um programa é o instrumentode organização das ações do governo,elaborado em função de um diagnósticode um problema ou oriundo de uma
demanda da sociedade, tendo um objetivoclaro e preciso, de modo a expressar oresultado a ser atingido (SENADO FEDERAL,2004). O programa deve ser mensurávelpor um ou mais indicadores estabelecidosno Plano Plurianual.
Os programas são constituídos deações que, dentre as suas funções, visam:aumentar a racionalidade e eficiência dogasto, ampliar a visibilidade dos resultadose benefícios gerados para a sociedade,como também elevar a transparência naaplicação dos recursos. Cada ação possuium produto com metas físicas corres-pondentes aos recursos alocados, sendoesse princípio de uma gestão orçamentáriavoltada para resultados.
No PPA 2000-2003, existiam quatrotipos de classificações de programas, deacordo com a sua natureza (BRASIL, 1998):
• programas finalísticos – maioria dosprogramas que provêem direta ou indire-tamente bens ou serviços para a sociedade;
• programas de gestão de políticas públicas –incluem as ações necessárias para que osórgãos de governo possam desenvolversuas atividades de formulação, monito-ramento e avaliação de políticas públicas;
• programas de serviços ao Estado –executados por organizações cuja missãoprimordial é a prestação de serviços aórgãos do próprio Estado;
• programas de apoio administrativo – denatureza apenas orçamentária, objetivaagregar elementos de despesa.
Dentre esses quatro tipos de programas,apenas os Finalísticos e de Serviços aoEstado possuíam indicadores e foramsuscetíveis ao processo avaliativo.Os primeiros representam a grande maioriados programas do PPA.
O desenho do PPA 2000-2003 cria afigura do gerente com responsabilizaçãoindividualizada sobre a obtenção dos

RSP
137
Pedro Luiz Cavalcante
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 129-150 Abr/Jun 2007
resultados das ações e prestação de contasda sua gestão. Além disso, o monito-ramento em rede com apoio do Sistemade Informações Gerenciais e de Planeja-mento do Plano Plurianual (SigPlan), adefinição de programas estratégicos, ogerenciamento intensivo e a avaliação anualde desempenho de todos os programas eplanos são a base do novo modelo(GARCES; SILVEIRA, 2002).
Quanto à questão da responsabilizaçãodos dirigentes, Core (2004) argumenta quea reforma deu nova configuração para afunção de gerência, com o propósito dedesenvolver mecanismos que levassem àcobrança de resultados e responsabilidadesdefinidas. Já Pacheco (2004) considera queessa relação se aproxima de um contratode resultados, expresso em termos de umprograma.
Em relação ao processo de avaliação,o foco é no programa e não na organi-zação executora das ações, distintamentedos casos dos países da OCDE, queintroduziram o modelo de orçamento porresultados. A sistemática de avaliação anualpretende aumentar a transparência da açãode governo, mediante a prestação decontas à sociedade sobre o desempenhodos programas; melhorar o desenho dasações governamentais; auxiliar a tomadade decisão; aprimorar a gestão e promovero aprendizado.
Outro aspecto fundamental do PPAfoi a criação do SigPlan6 (Sistema deInformações Gerenciais e de Planeja-mento), considerado um instrumento deapoio ao planejamento, execução, moni-toramento e avaliação dos programas doPPA. O SigPlan conjuga os dados deexecução orçamentária e financeira detodos os programas e ações do governofederal, provenientes do Sistema Integradode Dados Orçamentários (Sidor) e do
Sistema Integrado de AdministraçãoFinanceira (Siafi). Calmon e Gusso (2003)defendem que o SigPlan representa ummecanismo fundamental na sistematizaçãodas informações relativas a todas as etapasdo processo de avaliação anual do PPA.
Nos argumentos dos idealizadores, énítida a crença de que as inovações do PPAdeveriam criar condições para se rompero caráter incremental do orçamento, pormeio da alocação de recursos para osprogramas com clareza de prioridades ecom esforço de negociação dentro dogoverno (GARCES; SILVEIRA, 2002).
PPA 2004-2007 (Brasil de Todos)A discussão e a formulação do PPA
2004-2007 ocorreram no início de umnovo governo. No entanto, a transição nãogerou alterações significativas na elaboraçãodo PPA, destaque apenas para a tentativade ampliação do debate acerca da formu-lação do plano, considerado como umavanço. Nesse sentido, observou-se umprocesso de ampliação da publicização doPPA e uma discussão de seus conteúdosnas 27 unidades da Federação sob aliderança da Secretaria-Geral daPresidência. Calmon e Gusso atentam paraessa inovação:
“Ao contrário do que ocorreuna formulação do PPA anterior, queintroduziu mudanças significativas nomodelo de planejamento e gestãoaté então adotados, foram mantidos,no PPA 2004-2007, os conceitos, osfundamentos metodológicos, omodelo de gestão, o Sistema deInformações Gerenciais e de Planeja-mento do Plano Plurianual (SigPlan) ea forma de organização porprogramas adotados anteriormente.Entretanto, há uma diferença

RSP
138
O Plano Plurianual: resultados da mais recente reforma do Planejamento e Orçamento no Brasil
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 129-150 Abr/Jun 2007
fundamental entre a sistemática doPPA 2004-2007 e a utilizada anterior-mente: a adoção de uma estratégia deformulação participativa” (2003, p.27).
O novo PPA, aprovado pela Leino 10.933, de 11 de agosto de 2004, foidenominado Brasil de Todos, nome-fantasia que procurou refletir o caráterparticipativo da formulação. O Plano aindavigente objetiva assegurar a otimização dosrecursos públicos e a efetividade do projetode desenvolvimento sustentável do País.O modelo de gestão do plano foi estabe-lecido pelo Decreto no 5.233, de 06 deoutubro de 2004, que embora nãotrouxesse mudanças radicais, apresentoualguns ajustes7 relevantes, que serãoapresentados a seguir.
A avaliação da experiência anterior doPPA indicava alguns problemas, tais como:
• dificuldades na articulação entre osgerentes e a estrutura formal de cadaMinistério (especialmente na função deordenação de despesas);
• escassez dos meios frente às respon-sabilidades dos gerentes;
• pequena participação dos gerentesnos processo decisórios;
• pouca cooperação institucional parasuperação de restrições;
• acesso restrito aos canais de negociação.Desse modo, o novo Plano, diante da
necessidade de ampliar a responsabilizaçãodo gerente do programa e ao mesmotempo inseri-lo no processo de tomadade decisões, passa a definir o titular doórgão como o detentor da responsabi-lidade pela consecução dos objetivossetoriais e a incluir mais três atores:
• gerente: titular da unidade adminis-trativa à qual o programa está vinculado; éresponsável pela gestão do Programa; deveproporcionar e articular recursos para o
alcance dos objetivos do programa,monitorar e avaliar a execução do conjuntodas suas ações;
• gerente-executivo: apoiar a atuação dogerente de Programa, integrando oconjunto das ações;
• coordenador de ação: viabilizar aexecução e o monitoramento de uma oumais ações do Programa, é o responsávelpela unidade administrativa à qual sevinculam as ações.
Assim como no PPA anterior, ospressupostos da gestão orientada porresultados e preocupada com a transpa-rência, na melhoria da efetividade e daeficiência das ações governamentaistambém são inseridos no modelo de gestãodo Plano Brasil de Todos (BRASIL, 2004).Ou seja:
“Embora mais efetiva, transparentee democrática, a gestão pública porresultados envolve processos aparen-temente mais complexos do que atradicional gestão hierárquica e baseadano comando e controle” (2004, p.29).
Assim, permanece o foco emprogramas como o orientador da atuaçãogovernamental, fortalecendo a funçãoplanejamento integrada ao orçamento ea gestão do gasto como central paradar qualidade e coerência aos processosde monitoramento e avaliação e derevisão do plano, bem como parasubsidiar a elaboração do Projeto de Leide Diretrizes Orçamentárias (PLDO) e doProjeto de Lei Orçamentária Anual(PLOA). Com efeito, o alcance dosresultados pressupõe definições de metasfísicas e financeiras precisas e produtosmensuráveis (BRASIL, 2004).
Sendo assim, os principais objetivos doPlano de Gestão do PPA 2004-2007 são:

RSP
139
Pedro Luiz Cavalcante
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 129-150 Abr/Jun 2007
1) construir uma gestão orientada pararesultados;
2) viabilizar uma gestão colegiada,participativa e ágil;
3) incorporar processos de monitora-mento e avaliação que contemplem asespecificidades de cada setor e de seusprogramas;
4) melhorar a utilização, a qualidade ea confiabilidade das informações geradas;
5) propiciar mecanismos para tomadade decisões estratégicas e operacionais.
Com vistas a atingir tais objetivos, aestratégia de avaliação e monitoramentofoi priorizada, uma vez que essa é uma dasprincipais deficiências das experiênciasanteriores. Dessa forma, a avaliação é peçacentral no Plano de Gestão (2004), namedida em que almeja o aperfeiçoamentocontínuo do desenho e da implementaçãodos programas e do Plano.
A data de entrega do Relatório Anualde Avaliação ao Congresso Nacional e aconseqüente veiculação para a sociedadetambém foi alterada. Enquanto o PPA2000-2003 estabelecia o prazo de 15 deabril de cada ano; esse prazo, no novo PPA,estendeu-se até o dia 15 de setembro. Talalteração impacta a apreciação dos Projetosde Lei de Revisão do PPA e de Lei Orça-mentária Anual no âmbito do CongressoNacional, haja vista que restringe em cincomeses o tempo de análise até a sua revisão.
A outra distinção, em relação ao PPAanterior, é o início da implantação doSistema de Monitoramento e Avaliaçãodo Plano Plurianual, que tem comofinalidade8:
• proporcionar maior transparência às açõesde governo: informações sobre desempenhodos programas como instrumento deprestação de contas junto à sociedade;
• auxiliar a tomada de decisão: infor-mações úteis à melhoria da qualidade das
decisões sobre planejamento e ações go-vernamentais;
• promover a aprendizagem e a disseminaçãodo conhecimento nas organizações: ampliação doconhecimento dos gerentes e de suasequipes sobre o programa, devendo serentendida como oportunidade dediscussão coletiva sobre o programa;
• aperfeiçoar a concepção e a gestão do planoe dos programas: desenvolvimento deinstrumento de gestão que visa assegurar
o aperfeiçoamento contínuo dosprogramas e do Plano, objetivandomelhorar os resultados e otimizar osrecursos públicos.
Nesse sentido, prevalece a perspectivada importância dos resultados da avaliaçãopara subsidiar as tomadas de decisão emdiferentes níveis: estratégico (Ministros eComitê de Coordenação de Programas),tático (gerentes, gerentes-executivos e
“Acredita-se quea análise de custospode fornecer basesmais objetivas paraa alocação derecursos públicosna área social, tantonos órgãos setoriaisquanto nos órgãoscentrais daadministraçãopública federal”.

RSP
140
O Plano Plurianual: resultados da mais recente reforma do Planejamento e Orçamento no Brasil
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 129-150 Abr/Jun 2007
coordenadores de ação) e operacional(coordenadores de ação e sua equipe).
Por fim, o processo da avaliação anualdo PPA se realiza em três etapas, pelasinstâncias de implementação do PlanoPlurianual: gerência de programas (avaliaçãodo programa), ministério- setorial (avaliaçãosetorial) e Ministério do Planejamento,Orçamento e Gestão (avaliação do plano). Deforma distinta da sua versão anterior, oPPA 2004-2007 inseriu na etapa interme-diária a figura da Unidade de Monito-ramento e Avaliação (UMA), compostapor servidores da Subsecretaria de Planeja-mento, Orçamento e Administração(SPOA) de cada ministério, sendo elaresponsável pela consolidação dasavaliações dos gerentes dos programas,conforme a figura abaixo:
A avaliação anual de programas e aavaliação setorial são realizadas por meiode dois roteiros de questões disponibili-zados no SigPlan, em módulo específico
para o processo de avaliação. Assim querespondidos pela gerência do programa,os roteiros seguem para a SPOA, que osconsolida e encaminha ao MP. Este, porsua vez, inclui análise das variáveismacroeconômicas e do cenário que integraa Lei de Diretrizes Orçamentárias e aconjuntura atual. Além disso, incorpora aanálise estatística dos dados obtidos nasduas etapas iniciais e o levantamento dosfatores que dificultaram a implementaçãoe o alcance dos objetivos dos programas.
A etapa de avaliação do programasubdivide-se em três partes interdepen-dentes: a avaliação quanto à concepção doprograma; a avaliação quanto à implemen-tação do programa; a avaliação quanto aosresultados do programa.
Todas as etapas são importantes parao alcance dos objetivos da avaliaçãosupracitados. Contudo, a terceira etapa temmais destaque dentro da concepção domodelo de orçamento por resultados.
Fonte: Brasil, 2006
Figura 1: Etapas e instâncias da avaliação dos programas e do PPA
Ministério doPlanejamento
Avaliação doprograma• Resultados• Concepção• Implementação
Avaliação setorial• Resultados do conjunto dos programas• Concepção do conjunto dos programas
Avaliação do plano• Cenário macroeconômico• Gestão do Plano
Etapas e instâncias da avaliação
Gerência Ministério setorial
Relatório Anual de Avaliação

RSP
141
Pedro Luiz Cavalcante
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 129-150 Abr/Jun 2007
A elaboração, o acompanhamento e aapuração dos indicadores de desempenhosão ações essenciais que visam tornar aavaliação de resultados mais objetiva e,conseqüentemente, mais plausível.
Proposta do Plano Plurianual2008-2011
Desde março do presente ano, ogoverno, por intermédio do MP, iniciou oprocesso de discussão e formulação daproposta do Plano Plurianual para osquatro próximos anos (2008-2011). Coma finalidade de organizar a ação governa-mental com vistas à melhoria do desem-penho gerencial da administração públicae contribuir para a consecução das priori-dades do governo, o Manual de Elabo-ração do Plano9 apresenta uma relação desete princípios. Do ponto de vista domodelo de orçamento por resultados,cinco princípios convergem para ele; sãoestes: integração de políticas e programas,monitoramento e avaliação dos projetos eprogramas de governo; gestão estratégica
dos projetos e programas; transparênciana aplicação dos recursos públicos; parti-cipação social na elaboração e gestão doPlano Plurianual.
Apesar da fase inicial do processo, épossível constatar uma continuidade domodelo que fundamentou os dois planosanteriores. A metodologia de definição dosprogramas não foi alterada, conformeverifica-se na figura abaixo extraída doManual de Elaboração do Plano.
A figura apresenta a lógica de cons-trução de um programa. Os passos são osseguintes: identificação do problema, suascausas e o público-alvo, definição doobjetivo e das ações do programa que atin-girão as causas do problema. Segundo omanual, o programa continua sendocompreendido como o mecanismo quearticula um conjunto de ações parapromover o enfrentamento do problema,devendo seu desempenho ser passível demensuração por meio de indicadores dedesempenho condizentes com o objetivoestabelecido. Observa-se, portanto, que não
Fonte: Brasil, 2007
Figura 2: Orientação para elaboração de programa
ProblemaObjetivo +indicadorPrograma
C1
C2
C3
Causas Público-alvo:pessoas, famílias, empresas
Ações
A2
A1
A3

RSP
142
O Plano Plurianual: resultados da mais recente reforma do Planejamento e Orçamento no Brasil
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 129-150 Abr/Jun 2007
houve mudanças no modo de elaboraçãodos programas em relação aos dois planosanteriores.
No que tange à avaliação e monitora-mento, não surgiram inovações até omomento. Como já mencionado, os indi-cadores de desempenho continuarão, pelomenos teoricamente, exercendo um papelrelevante dentro do processo. Com relaçãoà questão da avaliação, o manual esclarece:
“A prática da avaliação fortalece oplanejamento e a aprendizagem nasorganizações governamentais, mediantea geração de informações qualificadassobre os resultados alcançados e asrestrições enfrentadas na implemen-tação dos programas, oferecendorecomendações para auxiliar a tomadade decisão (2007, p.25)”.
As avaliações do programa conti-nuarão sendo realizadas todo ano emconjunto com as avaliações do Plano, umavez que são entendidas como essenciaispara o aperfeiçoamento dos programase do processo de alocação dos gastos dogoverno. Os Relatórios Anuais deAvaliação apontam uma tarefa desenvol-vida em três etapas e por diferentesinstâncias, do mesmo modo do PPAvigente. Quanto ao monitoramento dosprogramas e ações, o Manual de Elabo-ração também não indica nenhumaalteração na metodologia de coleta etratamento dos dados.
A implementação efetiva do Plano
Nos últimos quarenta anos, o processoorçamentário do governo federal sofreudiversas transformações. Entretanto, no quese refere aos três fatores do processoorçamentário, a supremacia do fator
controle sobre os demais (planejamento egerência) não sofreu alteração significativadurante o período. A tentativa de amenizaresse desequilíbrio por meio das inovaçõesdo PPA comemora oito anos. Houveavanços e melhorias no processo? Quaisas limitações da reforma?10
Quanto aos avanços, é notório que aavaliação dos programas começa a serincorporada na agenda pública brasileira.Calmon e Gusso (2003) argumentam quea experiência de avaliação do PPA gerouuma ampla adesão dos órgãos de governoao movimento de avaliação e melhoria dagestão pública, sendo essa uma indicaçãosobre a cultura de resultados.
Embora a avaliação tenha uma etaparealizada pela própria secretaria respon-sável, o processo avaliativo anual contribuipara a abertura de uma oportunidade dediscussão interna acerca da concepção,implementação e resultados dosprogramas. Em outras palavras, a existênciade um momento voltado para se pensarno desenho e na estrutura das açõesgovernamentais enseja uma oportunidadepara o aprimoramento das políticasgovernamentais.
Dessa forma, o BIRD (2002) ressaltao comprometimento do governo brasi-leiro em direcionar as ações aos resultados,com vistas a tornar o gasto público maisefetivo, eficiente, transparente, bem comoresponsivo às demandas da sociedade.
Apesar de incipiente, a idéia deintegração entre orçamento e planeja-mento, que trouxe mais simplificação evisibilidade ao sistema orçamentáriobrasileiro, conseqüentemente ampliou atransparência da gestão. A implementaçãodo Plano contribui para referenciar todasas ações do governo a uma programaçãoque proporciona uma imagem objetivade racionalidade.

RSP
143
Pedro Luiz Cavalcante
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 129-150 Abr/Jun 2007
Por outro lado, não são poucas aslimitações e dificuldades enfrentadas naimplementação do novo modelo de gestãodo PPA. Os estudos do Banco Mundial(2002; 2006) expõem que o País temevoluído de forma modesta nas reformasorientadas aos resultados ou desempenho.A introdução de elementos da gestão e doorçamento por resultados tem encontradosérias restrições.
Garces e Silveira (2002) salientam queum dos principais entraves à implemen-tação da reforma é a insuficiência quanti-tativa e qualitativa de informaçõesgerenciais. Por falta de sistemas e métodosadequados, os gerentes enfrentam dificul-dade em obter e consolidar informaçõessobre os resultados e o desempenho físicodos programas sob sua responsabilidade.O quadro se agrava à medida que açõesvão sendo descentralizadas para Estadose Municípios. Na falta de informaçõesconsistentes para subsidiar a decisão, ogerenciamento e a gestão estratégicaperdem foco e rapidez.
Com base nos relatórios anuais deavaliação do PPA, que apresentam aconsolidação dos desempenhos dosprogramas, observa-se que as dificuldadesdos gerentes de programas e de sua equipeinfluenciam na aferição dos resultados dosprogramas. Dois problemas centrais foramencontrados na mensuração de resultadosdos programas: a dificuldade na elaboraçãode indicadores de resultado (efetividade) ede mensuração do grau de impacto doprograma na evolução do indicador; acomplexidade de identificar o períodorazoável para que um programa gereresultados.
A apuração dos indicadores dosprogramas do PPA 2000-2003 retrata umdesempenho aquém do esperado11. Dos663 indicadores existentes no último ano
do plano, apenas 260 foram apurados,cerca de 40%; sendo que apenas 15% ou98 indicadores atingiram o índice previstono final do Plano. Quanto aos programas,somente 73 do total de 392, no fim de2003, possuíam um indicador com o índiceprevisto.
Apesar de apresentar melhoriascontínuas desde o PPA 2000-2003, aapuração de indicadores de desempenhodos programas continua insatisfatória.Durante os dois primeiros anos do PPAvigente (2004 e 2005), ocorreu umaumento quantitativo de indicadores e deindicadores apurados. Na verificação deatendimento das metas, todavia, a apuraçãofoi abaixo do esperado. Como exemplo,em 2004 pouco mais de 40% de todos osindicadores de programas do PPA foimensurado. No caso específico dosprincipais ministérios da área social(Ministério do Desenvolvimento Social,Educação e Saúde), esses tiveram osseguintes percentuais de apuração: 13%,0% e 68%, respectivamente12.
Quanto à relação entre indicadores eprocesso de alocação de recursos, nota-seque não há causalidade entre as variáveis.De modo geral, o desempenho dosprogramas, mensurado pelos indicadores,não impacta, pelo menos em termosquantitativos, as dotações de recursos ouas suas execuções orçamentárias dosprogramas (CAVALCANTE, 2007).
Prevalece a falta de informaçõesconfiáveis e de pessoal qualificado pararealizar o monitoramento dos indicadores.Além disso, as metas são, na sua maioria,irrealistas e carentes de dados e instrumentospara a sua mensuração. Com efeito, na horada tomada de decisões alocativas, normal-mente os indicadores do PPA são ignorados.
Outra deficiência do processoavaliativo do Plano Plurianual é a ausência

RSP
144
O Plano Plurianual: resultados da mais recente reforma do Planejamento e Orçamento no Brasil
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 129-150 Abr/Jun 2007
de indicadores de custos dos programasou dos órgãos que os executam. Os inputs,isto é, salários e custos de capital, estãoseparados em programas globais e não sãocontabilizados. Portanto, as medidas dedesempenho estão longe de seremcompletas. A importância da mensuraçãodos custos das ações governamentais éressaltada por Cunha e Rezende:
“Acredita-se que a análise de custospode fornecer bases mais objetivas paraa alocação de recursos públicos na áreasocial, tanto nos órgãos setoriais quantonos órgãos centrais da administraçãopública federal” (2005, p.132).
A estrutura de incentivos do Plano nãose mostra nem sustentável, nem consistente,por não integrar os conteúdos progra-máticos, informacionais, orçamentários,organizacionais e de recursos humanos(BIRD, 2002). A figura dos gerentes e achamada contratualização de resultadosnão funcionaram de forma efetiva, emboraa arquitetura para tal tenha sido moldada.O locus institucional do PPA se restringeao circuito que compreende a Secretariade Planejamento e Investimentos Estraté-gicos (SPI), a Secretária de OrçamentoFederal (SOF) e a Subsecretaria de Plane-jamento, Orçamento e Administração(SPOA).
Finalmente, uma crítica constante aoPlano Plurianual é o fato da metodologiaser um modelo amplo, geral e irrestrito paratodas as pastas, independente das caracte-rísticas distintas de cada uma. Isto é, umúnico modelo para ministérios com estru-turas de distintos tamanhos como oMinistério da Saúde e o Ministério doTurismo ou de áreas diversas, tais como oMinistério de Minas e Energia e o Ministériodo Desenvolvimento Agrário. Tal
constatação vai ao encontro da análise deRadin (2006) sobre o Movimento porResultados, quanto à tendência de adotariniciativas de perfil “one-size-fits-all”, ou seja,um modelo padrão para ser implemen-tado em qualquer organização ou governo,ignorando assim as particularidades dosmesmos e de seus programas.
Considerações finais
Diante da exposição dos avanços elimitações da nova metodologia de planeja-mento e orçamento proposta pelo PlanoPlurianual, é razoável argumentar que amesma se enquadra no modelo de orça-mento por resultados ou por desempe-nho? E ainda, que mudanças introduzidascontribuíram para o aprimoramento doprocesso orçamentário?
Quanto à primeira questão, partimosdo pressuposto de três princípios elemen-tares do modelo de orçamento por resul-tados: a mensuração de resultados emtermos de indicadores de desempenho; autilização de indicadores de custos ou deeficiência e, por fim, os dois primeirosprincípios inseridos num sistema deaccountability com um mecanismo depremiações e punições.
A mensuração de resultados emtermos de indicadores está claramenteincluída na estrutura do Plano Plurianual,conforme se pode verificar na apresen-tação das experiências recentes do PPA.No entanto, os resultados do moni-toramento e da avaliação dos programasdo PPA não têm sido bem sucedidos. Osindicadores de desempenho, medidaobjetiva de análise dos resultados dosprogramas, não apenas são negligenciadosno decorrer do Plano, como também nãosão considerados relevantes nas tomadasde decisões.

RSP
145
Pedro Luiz Cavalcante
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 129-150 Abr/Jun 2007
Em relação aos indicadores de custos,o PPA deixa muito a desejar. As análisesde custos ou eficiência dos programasfinalísticos são praticamente inexistentes eos programas não são cobrados pelamelhoria da eficiência dos gastos. Issoindica a ausência de uma preocupação naagenda quanto à eficiência dos gastos,diferente das experiências recentes dereformas administrativas dos países daOCDE, por exemplo. Como agravante,no caso da administração pública brasileira,a falta de flexibilidade dos órgãos afeta arealização de indicadores de custos e, logo,a mensuração do dispêndio das açõesgovernamentais. Os custos com pessoal,material de consumo, passagens, diárias eetc., na maioria das vezes, não sãocontabilizados, impedindo assim umaanálise fidedigna da eficiência dos órgãos.
O terceiro princípio pressupõe que ouso de indicadores de custo e de desem-penho só tem validade se inseridos numsistema de accountability com ummecanismo de premiações e punições. Noentanto, não há relação direta entre amensuração dos indicadores dosprogramas do PPA com as decisõesalocativas, isto é, o desempenho doprograma, analisado por meio dos indi-cadores do PPA, não influencia apremiação ou sanção aos gestores. Emboraos programas possuam gerentes, dentrode uma estrutura instituída de respon-sabilização, esses não são contempladoscom mais recursos ou punidos comrestrições orçamentárias em função do seudesempenho. Em termos práticos, osindicadores são positivos no sentido deampliar a transparência governamental;contudo, o grau de accountability é conside-ravelmente baixo.
Quanto à avaliação, trata-se de uminstrumento fundamental voltado para o
gerenciamento dos recursos, mas somentepossui validade se os resultados sãoutilizados para fins de tomada de decisões.No caso dos programas do PPA, a incor-poração de mecanismos sistemáticos deavaliação e monitoramento ao processoorçamentário não tem agregado valor aoprocesso decisório organizacional.
Deste modo, do ponto de vista teórico,observa-se que o novo desenho do PlanoPlurianual apresenta alguns elementos domodelo de orçamento por resultados oupor desempenho. Porém, a despeito deopiniões otimistas em relação ao desen-volvimento da gestão orçamentária voltadapara resultados, poucos avanços têm sidodetectados no sentido de atingir a finalidadeprecípua do modelo: a melhoria daefetividade e da eficiência nos gastospúblicos.
Todavia, não se pode creditar apenasà metodologia e à estratégia de implemen-tação do PPA as razões do seu fracasso,haja vista que o ceticismo quanto aoimpacto do PPA sobre o aprimoramentoda gestão orçamentária também tem suasraízes nas deficiências do próprio modelode orçamento por resultados.
Primeiro, é notória a dificuldade de seavaliar o impacto dos programas, pois acomplexidade da ação pública freqüen-temente envolve uma gama de atores comdiferentes agendas e valores operacionaisconflitivos dentro de um processo dedecisão fragmentado. Em outras palavras,as decisões do setor público, em especial,nem sempre criam uma situação em que épossível determinar o programa do qualveio o resultado.
Segundo, prevalece a percepção de queas decisões orçamentárias são políticas enão técnicas. A decisão orçamentária pauta-se nos resultados, com base em infor-mação neutra, na definição do que está

RSP
146
O Plano Plurianual: resultados da mais recente reforma do Planejamento e Orçamento no Brasil
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 129-150 Abr/Jun 2007
sendo medido e na relação de causa-efeitodos programas, ignora a complexidade deum mundo cercado de ambigüidades emrelação a números e dados, a existência deuma arena composta de múltiplos atorese interesses, bem como a presença dediversas variáveis interdependentes nosistema.
E finalmente, a tendência natural doengessamento dos orçamentos dificulta astentativas de romper com a prática coti-diana do incrementalismo da gestão orça-mentária, um dos principais objetivos domodelo. Em termos gerais, à medida quese aumenta o tamanho e a abrangência doorçamento, ele torna-se menos flexível emais restritivo (SHICK, 2006). O argu-mento se ajusta perfeitamente ao casobrasileiro, cujo caráter incremental do
orçamento público tem ganhado cada vezmais espaço, uma vez que a rigidez orça-mentária tem se ampliado com as cons-tantes elevações do percentual de despesasobrigatórias no orçamento da União pós-Constituição de 1988.
Dessa forma, as experiências daimplementação do orçamento porresultados em economias mais desen-volvidas e em estruturas administrativasmais flexíveis, como nos países membrosda OCDE, também vêm demonstrandoque a complexidade das relações políticase a multiplicidade de fatores que permeiamo processo orçamentário são obstáculosmais relevantes do que eram previstos nomomento da formulação da reforma.
(Artigo recebido em junho de 2007. Versãofinal em junho de 2007)
Notas
1 Sobre reforma gerencial, ver ABRÚCIO, Fernando. O impacto do modelo gerencial na administraçãopública: um breve estudo sobre a experiência internacional recente. Cadernos da ENAP,no 10, Brasília, 1997.
2 OECD. Modernising government: the way forward. Paris, 2005.3 Accountability, palavra ainda não traduzida para a língua portuguesa, nos remete ao princípio
de que indivíduos e organizações são responsáveis pelos seus atos e devem explicações sobre osmesmos.
4 A orientação estratégica do presidente da República do PPA 2000-2003 definiu as diretrizesdo governo para o período do Plano. A partir das diretrizes estratégicas, foram elaborados 28 macro-objetivos setoriais que tinham como finalidade nortear a formulação das políticas públicas no âmbitode cada Ministério e a elaboração dos programas que integrarão o Plano Plurianual.
5 O Estudo de Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento, elaborado a partir de umamplo processo de discussão de março a agosto de 1999, teve como produto final um portfólio deoportunidades de investimentos públicos e privados para o período de 2000-2007 e que serviu debase para a elaboração do PPA 2000-2003.
6 O SIGPlan é um sistema online que organiza e integra a rede de gerenciamento do PlanoPlurianual (PPA). Ele foi concebido para apoiar a execução dos programas, sendo utilizados pelosórgãos setoriais, Presidência da República, Casa Civil, Ministérios e outras entidades. O SIGPlanconstitui, portanto, uma ferramenta de apoio à gestão dos programas do PPA, sendo o elo fundamental

RSP
147
Pedro Luiz Cavalcante
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 129-150 Abr/Jun 2007
entre o programa, o gerente e demais agentes envolvidos na execução das ações de governo.O sistema propicia uma visão global da execução do PPA por meio de informações atualizadas sobrea evolução física e financeira dos programas. Para mais informações ver: <www.sigplan.gov.br>.
7 Brasil. Plano de gestão do PPA 2004-2007, 2004. Disponível em: <www.planejamento.gov.br>.8 Brasil. Manual de avaliação do PPA 2004-2007, 2006. Disponível em: <www.planejamento.gov.br>.9 Manual de elaboração do Plano Plurianual 2008-2011.10 Cabe salientar, que por se tratar de um processo de reforma relativamente novo, o quanti-
tativo de estudos realizados sobre o Plano Plurianual após esse período é relativamente pequeno.11 Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI/MPOG). Plano Plurianual
2000-2003, uma análise dos quatro anos de implementação, mimeo, 2004.12 CAVALCANTE, Pedro. A implementação do orçamento por resultados no âmbito do executivo
federal: um estudo de caso. Dissertação de Mestrado. Brasília: Instituto de Ciência Política daUnB, 2007.
Referências Bibliográficas
BIRD. Management and Evaluation within the Plano Plurianual: institutionalization withoutImpact?. Washington: World Bank, 2006.
. Brazil Planning for Performance in the Federal Government: Review of thePlurianual Planning. Report no 22870-BR, Washington: World Bank, 2002.BRASIL, República Federativa do. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 deoutubro de 1988.
. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Programa Brasil emAção. Brasília, agosto de 1996. Disponível em: <http://www.planejamento.gov.br>.
. Decreto no 2.829, de 29 de outubro de 1998. . Portaria MP no 42, de 14 de abril de 1999. . Lei no 9.989, de 24 de julho de 2000 (PPA 2000-2003). . Decreto no 5.233, de 06 de outubro de 2004. . Lei no 10.933, de 11 de Agosto de 2004 (PPA 2004-2007). . Plano gestão pública para um Brasil de Todos. Brasília, 2004. Disponível em:
<http://www.planejamento.gov.br>. . Manual de avaliação do PPA 2004/2007, Ano-Base 2005. Brasília: Dezembro
de 2006. Disponível em: www.planobrasil.gov.br/>.BRUMBY, Jim; ROBINSON, Marc. Does performance budgeting work: an analytical review ofthe empirical literature. IMF Working Paper 05/210. Washington: International MonetaryFund, 2005.CAIDEN, Naomi; WILDAVSKY, Aaron. Planning and budgeting in poor countries: comparativestudies in behavioral sciences. New York: John Wiley & Sons, 1974.

RSP
148
O Plano Plurianual: resultados da mais recente reforma do Planejamento e Orçamento no Brasil
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 129-150 Abr/Jun 2007
CALMOM, Katya; GUSSO, Divonzir. A experiência de avaliação do Plano Plurianual (PPA)do Governo Federal no Brasil. Planejamento e políticas públicas, no 25. Brasília: IPEA, jun/dez 2002.CUNHA, Armando; REZENDE, Fernando. Contribuintes e cidadãos compreendendo o orçamentofederal. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2002.
. O orçamento público e a transição do poder. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004.DAVIS, Otto, DEMPSTER, Michael; WILDAVSKY, Aaron. A theory of the budgetary process.American Political Science Review, Vol LX, no 8, set/1966.DIAMOND, Jack. Performance budgeting: managing the reform process. IMF WorkingPaper 03/33. Washington: International Monetary Fund, 2003a.
. From program to performance budgeting: the challenge for emergingmarket economies. IMF Working Paper 03/169. Washington: International Monetary Fund,2003b.
. Establishing a performance management framework of government.IMF Working Paper 05/50. Washington: International Monetary Fund, 2005.GAETANI, Francisco. O recorrente apelo das reformas gerenciais: uma breve comparação.Revista do Serviço Público, ano 54, no 4, out-dez 2003.GARCES, Ariel; SILVEIRA, José Paulo. Gestão pública orientada para resultados no Brasil.Revista do Serviço Público, ano 53, no 4, out-dez 2002.GARCIA, Ronaldo. Subsídios para organizar avaliações da ação governamental. IPEA,Texto para Discussão, no 776. Brasília, 2000.IKAWA, Cristiane. A aplicabilidade da experiência chilena no orçamento voltado pararesultados à realidade brasileira. Revista de Políticas Públicas e Gestão Governamental – Respública.Vol. 5, no 1, 2006.MATIAS PEREIRA, José. Finanças públicas – A política orçamentária no Brasil. 2a Edição.São Paulo: Editora Atlas, 2003.MELKERS, Julia; WILLOUGHBY, Katherine. The state of the states: performance-basedbudgeting requirements in 47 out of 50. Public Administration Review. Vol. 58, no 1, 1998.OECD. Modernising government: the way forward. Paris, 2005.PACHECO, Regina. Contratualização de resultados no setor público: a experiência brasileirae o debate internacional. In IX Congreso Internacional Del CLAD sobre la Reformadel Estado y de la Administración Pública. Madrid: Centro Latinoamericano deAdministración para el Desarrollo – CLAD, nov/2004.PARES, Ariel; VALLE, Beatrice. A retomada do planejamento governamental no Brasil eseus desafios. In: GIACOMONI, James; PAGNUSSAT, José Luiz (org.). Planejamento e orçamento(coletânea volume 1). Brasília: ENAP, 2006.RADIN, Beryl. Challenging the performance movement: accountability, complexity, and democraticvalues. Washington: Georgetown University Press, 2006.SENADO FEDERAL; CONORF. Planos e orçamentos públicos: conceitos, elementos básicos eresumos dos projetos de lei do Plano Plurianual/ 2004-2007 e do Orçamento 2004.Maio, 2004.

RSP
149
Pedro Luiz Cavalcante
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 129-150 Abr/Jun 2007
SHICK, Allen. Conflitos e soluções no orçamento federal. In: GIACOMONI, James; PAGNUSSAT,José Luiz (org.). Planejamento e orçamento (coletânea volume 2). Brasília, ENAP, 2006.SOUZA, Antonio Ricardo. As trajetórias do planejamento governamental no Brasil: meioséculo de experiências na administração pública. Revista do Serviço Público, ano 55, no 4,out-dez, 2004.WILDAVSKY, Aaron. A economia política de eficiência, análise de custo-benefício, análisede sistemas e orçamento-programa. In: Política X técnica no planejamento. BROMLEY, Ray;BUSTELO, Eduardo (eds). Brasília: Eds. Brasiliense e UNICEF, 1982.ZAPICO, Eduardo. La integración de la evaluación de políticas públicas en el procesopresupuestario. Revista do Serviço Público, ano 52, no 2, abr/jun 2001.

RSP
150
O Plano Plurianual: resultados da mais recente reforma do Planejamento e Orçamento no Brasil
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 129-150 Abr/Jun 2007
Resumo – Resumen – Abstract
O Plano Plurianual: resultados da mais recente reforma do Planejamento eOrçamento no BrasilPedro Luiz CavalcanteO artigo visa apresentar o debate acerca das transformações oriundas da última reforma do
planejamento e orçamento no Brasil, a qual introduziu o novo desenho do Plano Plurianual (PPA).Inicialmente, os princípios do modelo de orçamento por resultados ou desempenho que balizarama formulação do novo PPA são discutidos. Com base nos planos de gestão das experiências recentesdo Plano e na proposta do próximo PPA (2008-2011), são apresentadas as inovações da configuraçãodo processo orçamentário no país. Por fim, o artigo aborda os avanços e restrições da implementaçãodo novo desenho do PPA e conclui que, apesar de formalmente instituídos, os instrumentos doorçamento por resultados não atingem a finalidade precípua do modelo: melhoria da efetividade eeficiência nos gastos públicos.
Palavras-chaves: Plano Plurianual; orçamento; planejamento; avaliação; reforma.
El Plan Plurianual: resultados de la más reciente reforma del Planeamiento yPresupuesto en el BrasilPedro Luiz CavalcanteEl actual artículo tiene por objetivo presentar el debate sobre los cambios que se originan de la
última Reforma del Planeamiento y Presupuesto en el Brasil, lo que introdujo un nuevo diseño delPlan Plurianual (PPA). Para empezar, los principios del modelo de presupuesto por resultado odesempeño, que orientaron la formulación del nuevo PPA, son discutidos. Basado en los planes degestión de las experiencias recientes del Plano y en la propuesta del próximo PPA (2008 – 2011), sonapresentadas las innovaciones de la configuración del proceso presupuestario. Al fin el artículo trata delos avances y de las restricciones de la realización del nuevo diseño del PPA y concluye que, a pesar de queestén instituídos en la formalidad, los instrumentos del presupuesto por resultado no alcanzan lafinalidad primera del modelo, que es la mejoría de la efectividad y de la eficiencia en los gastos públicos.
Palabras-clave: Plan Plurianual; presupuesto; planeamiento; evaluación; reforma.
The Pluri-anual Plan: results from the latest Planning and Budget reform in BrazilPedro Luiz CavalcanteThis article aims at discussing the transformations resulted from the last planning and budget
reform in Brazil which introduced a new model of the “Plano Pluri-anual” (Pluri-anual Plan - PPA).At first, the performance budget model premises that influenced the formulation of the new PPAare discussed. Based on the Plan’s recent experience and on the project for the next PPA (2008-2011),innovations on the Brazilian budgeting framework are presented. Finally, the article approaches theadvances and limitations of the new Plan’s implementation and concludes that, in spite of beingformally established, the tools of the performance budget Model have not achieved their mainobjective: to improve the efficiency and effectiveness of public spending.
Key words: Pluri-anual Plan (Plano Plurianual); budget; planning; evaluation; reform.
Pedro Luiz CavalcanteMestre em Ciência Política pela UnB, pós-graduado em Administração Pública (EBAPE/FGV) e Especialista emPolíticas Públicas e Gestão Governamental (EEPPG). Atualmente Coordenador de Estudos Técnicos (SPO/MDS).Contato: <[email protected]>

RSP
151
Mark H. Moore
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 151-179 Abr/Jun 2007
Criando valor públicopor meio de parcerias
público-privadas*
Mark Harrison Moore
Introdução
Cidadãos em todo o mundo parecem ter perdido grande parte da confiança
em seus governos1. Eles não mais confiam que seus governos possam protegê-
los de ataques externos, como a guerra ou o terrorismo, da violência étnica ou
de crimes que insurgem de seus próprios países. Temem que a corrupção ampla-
mente disseminada tenha minado a capacidade do governo de assegurar direitos
cívicos básicos, tais como o direito à propriedade, a formar associações
voluntárias e a participar da governança democrática. Duvidam da capacidade
dos governos de cumprir suas constantes promessas de ofertar emprego, aumentar
o bem-estar material e prover, pelo menos, um nível mínimo de saúde e educação.
Questionam, inclusive, a capacidade de fornecer bens e serviços públicos, que
são hoje financiados pelos governos, de forma eficiente e efetiva.
Por outro lado, os cidadãos parecem depositar crescente confiança no poder
do setor privado para melhorar as condições de suas sociedades. Parte disso

RSP
152
Criando valor público por meio de parcerias público-privadas
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 151-179 Abr/Jun 2007
provém da crescente fé na capacidade dasempresas privadas e dos mecanismosmercadológicos em promover prospe-ridade material. É claro que os cidadãos,há muito, entenderam o poder do capita-lismo e dos mercados para impulsionar odesenvolvimento econômico e tecno-lógico. O que talvez seja novo é a crençade que esses avanços podem ser realizadossem as conseqüências econômicas, sociaise políticas negativas do passado. De umlado, há esperança – expressa pelo movi-mento em prol de mais responsabilidadesocial corporativa – de que as empresasprivadas possam ser persuadidas aproduzir sua mágica material evitando osdanos que infligiram ao ambiente naturale social no passado2. De outro, há espe-rança – expressa no atual entusiasmo pelainiciativa e empreendedorismo sociais –de que a energia empreendedora, impulsio-nada e guiada pelos mercados, possa serredirecionada para a tarefa de abordar eencontrar soluções para importantesproblemas sociais de que o governodescuidou3.
Uma segunda parcela do entusiasmopelo setor privado não provém, apenas, dafé nos mercados, mas também da redes-coberta e do desenvolvimento do poderque Bill Drayton, da Ashoka, descreve comoo “setor cidadão”4. Sua visão sobre o “setorcidadão” inclui vários empreendimentoscriados e liderados por indivíduos que seautorizam a agir em prol da melhoria dasociedade. Alguns desses empreendimentosoperam como entidades econômicas queampliam as oportunidades que advêm daparticipação no mercado para grupos eindivíduos excluídos desse processo. Outrasiniciativas do “setor cidadão” funcionamcomo associações civis de auto-ajuda queauxiliam no restabelecimento da dignidadeindividual e na construção da solidariedade
coletiva entre grupos oprimidos e excluídos.E incluem organizações explicitamentepolíticas que buscam influenciar tanto ogoverno como as empresas no sentido deincentivá-los a atuar em prol do interessepúblico.
Considerando a decrescente fé nogoverno e a crescente confiança nas insti-tuições privadas voluntárias – com e semfins lucrativos – para melhorar a qualidadede vida individual e coletiva, é bastantenatural que se busquem “parcerias público-privadas” para preencher esse vácuodeixado pelo governo. Portanto, nãosurpreende o fato de que tenha surgidoum discurso público enfatizando o grandepotencial das parcerias público-privadaspara compensar a deficiência no trato deimportantes problemas sociais e aumentara efetividade dos serviços prestados pelogoverno.
O propósito deste breve trabalho éavançar um pouco em direção aodesenvolvimento de um marco analíticoque ajude a avaliar as parcerias público-privadas, tanto à luz do conceito geral,como de propostas específicas concretas.É difícil ser contrário à idéia de que taisparcerias podem ajudar governos emdificuldade nos seus esforços parapromover a prosperidade econômica, asociabilidade e a justiça em seus paísesespecíficos. Confesso, porém, que me sintopouco à vontade em relação a esses arranjosemergentes. Mais especificamente, temoque o aspecto público desses arranjos seja,na prática, vencido pelo aspecto privado.Em outras palavras, receio que o públicofique a ver navios.
Penso que isso ocorre por, pelo menos,três motivos. Primeiro, o lado público nãotem clareza sobre o que se supõe que eledeva pedir ou proteger nessas parcerias.Em segundo lugar, o público está, de certa

RSP
153
Mark H. Moore
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 151-179 Abr/Jun 2007
forma, comprometido, desde o início, emfazer com que seus propósitos consigamsatisfazer tanto o lado privado quanto opúblico. Por esta razão, o lado público érepresentado de forma um pouco menosefetiva do que deveria. Em terceiro lugar,o lado público não entende, tão bemquanto o privado, como conduzir anegociação em questão e enfrenta dificul-dades para responder às jogadas estraté-gicas do parceiro privado.
Iniciarei com um breve caso parailustrar o problema de modo geral e, emseguida, desenvolverei um marco analíticopara ajudar o setor público a aprendercomo realizar suas responsabilidades de duediligence (checagem) de forma mais eficiente.
O caso do projeto de desenvol-vimento Park Plaza
No final dos anos 1960, na cidade deBoston, um empreiteiro privado chamadoMort Zuckerman concebeu um plano paradesenvolver uma parte bastante deterioradada cidade5. O terreno que o interessava eraocupado por empresas dilapidadas e boatesbarulhentas e decadentes. Ainda que algunspequenos empresários ganhassem a vidacom os poucos empreendimentos que alisobreviviam, e que alguns indivíduosgostassem de freqüentar os bares e as boatesde strip-tease do local, a maioria doscidadãos da cidade considerava muitopouco significativa a contribuição daquelaárea à vida econômica, social e política dacomunidade. Zuckerman tinha uma visãoalternativa sobre as atividades físicas,econômicas e sociais que poderiam aliocorrer. Ele previu um hotel moderno,prédios comerciais e sólidos projetosempresariais, que atrairiam indivíduos detoda a cidade, da região e até mesmo domundo.
“As PPPsmais simples sãoaquelas em queo governo iniciacom um propósitopúblico bemdefinido e busca,então, a ajuda deparecerias privadaspara realizá-lo.Ou seja, é aterceirização”.
Ele compartilhou sua visão de umempreendimento privado significativopara essa área com a Agência de Reurba-nização de Boston (BRA), órgão governa-mental local encarregado de orientar odesenvolvimento físico e econômico dacidade. A Agência gostou do que ouviu edenominou o local que interessava aZuckerman de “área de reurbanização doPark Plaza”. A BRA solicitou a empreiteirasprivadas propostas para reurbanizar a área,
de modo a aumentar o seu valor para oshabitantes de Boston. O projeto deZuckerman ganhou a concorrência, e oplano proposto por ele foi rapidamenteaprovado pela BRA, pelo prefeito deBoston e pela Câmera de Vereadores.O projeto, então, foi encaminhado aoDepartamento de Assuntos Comunitáriosdo Estado de Massachusetts (DCA) paraaprovação.

RSP
154
Criando valor público por meio de parcerias público-privadas
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 151-179 Abr/Jun 2007
O plano foi encaminhado ao DCAporque somente esse departamentopoderia aprovar planos de reurbanizaçãonos quais o domínio eminente do Estadodeve ser exercido. O domínio eminentepermite ao Estado tomar uma proprie-dade para fins públicos, contanto que umacompensação razoável seja paga aoproprietário. Do ponto de vista deZuckerman e da BRA, o domínio eminenteera crucial para o sucesso da empreitada.Se Zuckerman tivesse que negociar comcada proprietário de terras na área dereurbanização, e o projeto não pudesse serrealizado até que todos concordassem,haveria forte incentivo para que cadaproprietário impusesse um preço muitoalto, uma forma de vetar a iniciativa semprecisar exercer veto definitivo ao projetocomo um todo. Foi exatamente parasuperar tais dificuldades que os legisladoresestaduais delegaram aos órgãos dereurbanização autoridade limitada para oexercício do domínio eminente, de formaa elevar as taxas de desenvolvimentoeconômico urbano.
Contudo, como essa autoridade pararetirar a propriedade privada de alguémrepresenta o exercício de um poder estatalbastante significativo, o legislativo condi-cionou sua aplicação ao cumprimento deseis critérios: 1) o projeto não poderia serrealizado unicamente pela iniciativa privada;2) o plano proposto deveria ser “consis-tente com necessidades concretas dacomunidade”; 3) o plano de reurbanizaçãoproposto deveria ser financeiramentesólido; 4) a área proposta para a reurbani-zação deveria estar deteriorada; 5) o planode reurbanização deveria ser “suficien-temente completo”; e 6) deveria haver umplano aceitável para realocar os indivíduosafetados negativamente pela reurbanizaçãoproposta.
Essas condições representavam umesforço do legislativo para assegurar queum interesse público – nesse caso, a auto-ridade do Estado – não fosse utilizado deforma irresponsável, mas, sim, para criaralgo que tivesse, de fato, valor público. Nãoqueriam que o poder do Estado fosseutilizado em situações em que o mercado,sozinho, pudesse alcançar o mesmo resul-tado, tampouco que fosse utilizadosomente para aumentar o lucro de umempreendimento privado. Se a situaçãopedia o exercício do poder estatal, algo devalor público teria de advir disso. O queconstituía, assim, o valor público a serproduzido? Aparentemente, algo “consis-tente com necessidades concretas dacomunidade”, “financeiramente saudável”,que possa reduzir a “degradação” e queatenda às necessidades dos indivíduos quefossem deslocados pelo projeto. Cada umdesses conceitos poderia ser visto nãoapenas como um critério jurídico a seratendido, mas, também, como umadimensão do valor público a ser almejadapor meio do uso da autoridade pública.
O responsável pela revisão e aprovaçãoou rejeição da proposta no estado era umhomem chamado Miles Mahoney, comissáriodo Departamento Estadual de AssuntosComunitários. Importante dizer que, emboraMahoney tivesse sido nomeado e pudesseser removido de seu cargo pelo governador,este não tinha autoridade para aprovar oudesaprovar diretamente o plano. O Legis-lativo de Massachussetts delegara a compe-tência para o exercício do domínio eminenteexplicitamente ao comissário do Departa-mento Estadual de Assuntos Comunitários.Somente um documento de aprovação coma assinatura de Mahoney permitiria aZuckerman e à BRA invocar o uso dodomínio eminente para lançar seu ambiciosoprojeto.

RSP
155
Mark H. Moore
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 151-179 Abr/Jun 2007
Uma proposta para o desenvolvi-mento de três dos cinco lotes incluídos naárea de reurbanização do Park Plaza foisubmetida à revisão de Mahoney. Os trêslotes selecionados para o empreendimentoimediato eram visivelmente de maior valoreconômico. Os outros dois, nos quaisestava localizada grande parte da desagra-dável deterioração, estavam programadospara uma etapa posterior. A grande difi-culdade do projeto era que o plano nãoincluía um compromisso firme, por parteda empreiteira privada, de prosseguir odesenvolvimento dos lotes economica-mente menos lucrativos após a finalizaçãodos três lotes iniciais. O plano financeirodo empreendimento também era um tantosuperficial. Parecia que pouca atenção haviasido dada à realocação dos indivíduos queseriam prejudicados pelo empreendimento.Assim, o plano parecia deficiente emrelação a praticamente todos os critériosestabelecidos.
Mais importante: do ponto de vista deMahoney, parecia haver poucos aspectosque ele, pessoalmente, considerasse comode valor público no negócio. A visão queele tinha da missão de sua agência estavafocada em assegurar que os indivíduoscarentes que haviam suportado os ônus detentativas anteriores de reurbanizaçãopudessem administrar o ritmo e participardos benefícios dos projetos que passavampor seus bairros. O Park Plaza não era umdesses projetos que prejudicariam seria-mente a comunidade de moradorescarentes, mas Mahoney não conseguiareconhecer na proposta um benefíciopúblico. Parecia-lhe, simplesmente, que umempreiteiro privado estava pedindo-lhepara usar a autoridade do Estado e realizarum projeto que beneficiaria economica-mente o empresário e seus parceiros, e,eventualmente, a cidade, mas que
acrescentaria muito pouco em termos devalor público.
Mahoney defrontou-se, então, com aseguinte pergunta: ele deveria fazer partedessa parceria público-privada, disponi-bilizando o exercício do domínioeminente para os propósitos expressos noplano já apresentado para o Park Plazaou deveria negociar algo de maior valorpúblico, correndo o risco de afugentar oempreendedor?
Diferentes formas de parceriaspúblico-privadas
O caso do Park Plaza representa umaforma um tanto antiquada de parceriapúblico-privada: o tipo que foi importantepara o desenvolvimento econômicourbano ao longo de, pelo menos, umséculo. Não difere muito daquelas formasde parcerias público-privadas que foramutilizadas durante os últimos quatro séculospara construir o mundo que hojehabitamos.
Parcerias público-privadas de apoioao desenvolvimento econômico
Afinal, foram as parcerias público-privadas que apoiaram as explorações doocidente e o desenvolvimento docomércio, tanto com o Novo Mundocomo com o Extremo Oriente. Foram elasque desenvolveram a infra-estruturaeconômica moderna desse Novo Mundo– ferrovias e rodovias aproximaramflorestas e cereais das cidades e dosmercados europeus, barragens preveniramenchentes danosas, hectares de terrasaráveis foram abertos, a energia hidrelétricachegou a vilarejos rurais e assim por diante.Em inúmeros projetos desse tipo, asambições governamentais de expandir oterritório e a base de recursos que

RSP
156
Criando valor público por meio de parcerias público-privadas
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 151-179 Abr/Jun 2007
beneficiariam seus cidadãos estavamalinhadas aos fundos, às motivações e àcapacidade da iniciativa privada pararealizar esses objetivos. A própria idéia decorporação pública nasceu de esforçospatrocinados pelo Estado para promovero desenvolvimento econômico nessesnovos domínios.
Em outros exemplos históricosnotáveis, as parcerias público-privadasforam organizadas em torno de projetoscientíficos estruturados para o avanço doconhecimento básico ou para a resoluçãode importantes problemas práticos. Umlivro recente documenta os esforçosrealizados pelo governo britânico aoincentivar pesquisas científicas paradescobrir um meio viável de determinara longitude de uma embarcação em altomar6. Também ressaltam-se as parceriaspúblico-privadas mais recentes dedicadasà prevenção de doenças, como apoliomielite e a AIDS.
O aspecto que se quer destacar é que aidéia das parcerias público-privadas não énova. As organizações públicas há muitodependem das instituições privadas paraalcançar seus objetivos. Ao longo da nossahistória, o público e o privado vêmcooperando em grandes empreendimentoseconômicos e no estabelecimento daordem social.
Interdependência macro-institu-cional entre o público e o privado
De fato, pode-se dizer que umgoverno é praticamente incapaz de agirsem alguma forma de parceria com osetor privado. O direito público,desenhado para proteger a propriedadee assegurar que as relações entre oscidadãos sejam ordenadas e justas, nãopoderia ser facilmente posto em práticasem a obediência voluntária e o controle
social informal de um setor privado queconsente e propõe-se a fazê-lo. Benspúblicos não podem ser produzidos,serviços públicos não podem serprestados e condições sociais agregadasnão podem ser asseguradas sem financia-mento governamental, que é, em grandeparte, provido pela apropriação da rendae da riqueza privada por meio datributação. Sem dúvida, pode-se dizer queas formas mais antigas e comuns deparcerias público-privadas são aquelasoriundas da regulação governamental etaxação incidentes sobre os indivíduospara o alcance de propósitos públicosdefinidos coletivamente.
Pode-se, também, dizer que o setorprivado é incapaz de uma ação efetiva sema ajuda do governo. Sem a proteção gover-namental dos direitos à propriedade, hápoucos incentivos para que os indivíduosempenhem suas mentes e suas energias natarefa de produzir para outros ou emimaginar maneiras de alavancar esforçosde um grupo de cidadãos em um processoorganizado para produzir mais do que essemesmo grupo faria por si só em uma açãonão-coordenada. Sem o governo parafiscalizar contratos estabelecidos entrecompradores e vendedores ou entreempregadores e empregados, seria difícilorganizar os milhões de acordos estabe-lecidos entre estranhos que alimentam aenergia geradora e as atividades associadasàs economias de mercado.
Portanto, ainda que a maioria dassociedades modernas deseje fazer umadistinção marcante entre o setor público eprivado, ela também tem de reconhecerque esses setores não são isolados um dooutro7. Pelo menos no nível macro-institucional, eles convivem em uma relaçãocomplexa e interdependente para algumasde suas necessidades mais básicas.

RSP
157
Mark H. Moore
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 151-179 Abr/Jun 2007
“Quando umacordo é feito entreatores públicos eprivados, pode-sesupor que cadapessoa melhorou dealguma forma a suacondição, emcomparação com anão realização donegócio”.
A nova forma das parceriaspúblico-privadas: micro-negociaçõesrealizadas entre os representantesde empresas privadas e públicas
Essa macro-interdependência, porém,não é aquilo que hoje, em geral, definimoscomo parceria público-privada (PPP). Oque entendemos hoje como PPP, a meuver, são mais propriamente micro-arranjos:negociações específicas estabelecidas entreos representantes de organizações do setorprivado, de um lado, e das organizaçõesdo setor público, de outro. São represen-tantes que controlam os ativos e repre-sentam os interesses de órgãos públicos eprivados específicos, que buscam arranjoscooperativos, nos quais cada parte podefazer melhor (nos seus próprios termos)do que faria agindo por conta própria.
Essas parcerias podem assumir dife-rentes dimensões. Podem ser maiores oumenores de acordo com os recursosenvolvidos e controlados pelo acordo.Algumas – como aquelas que envolvemdecisões sobre como utilizar melhor asterras de propriedade do governo –podem envolver bilhões de dólares emudar as condições físicas e sociais devastos territórios. Outras – como as açõesde um departamento de polícia no intuitode ajudar uma comunidade a restaurar osentimento de segurança ao unir-se a elapara dar fim ao comércio de drogas nasruas – são bem menores.
As parcerias também podem ser maisou menos complexas de acordo com onúmero de partes e do tipo de ativos,recursos e atividades que estão em jogo nanegociação. Algumas podem envolverapenas dois representantes de duasempresas diferentes – é o caso de um agentede compras do governo que desejacomprar mesas de um fornecedor de
material para escritório. Outras – tais comoaquelas formadas para lidar com aviolência juvenil ou para restaurar a ordemem uma comunidade tomada por conflitosétnicos – podem envolver coalizões dedezenas de organizações de diferentesníveis e setores da sociedade. Algumaspodem tratar de transações financeirassimples, como uma compra e venda, porexemplo, quando uma empresa privada seoferece para adquirir ativos do governo
ou quando o governo contrata entidadesprivadas para produzir bens e serviçospúblicos. Outras podem envolver trocascomplexas de legitimidade e influência deum grupo para garantir a legitimidade einfluência de outro. É o que ocorre, porexemplo, quando um órgão governamentalbusca um relacionamento de trabalho maispróximo com uma comunidade que seafastou do governo ou quando uma

RSP
158
Criando valor público por meio de parcerias público-privadas
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 151-179 Abr/Jun 2007
empresa privada busca assegurar seusinvestidores e clientes de que ela atuou, emdeterminada transação, de forma ade-quada e com a aprovação governamental.
Às vezes, a iniciativa de formar aparceria parte do parceiro privado; emoutras, do parceiro público. Às vezes, agrande maioria de recursos vem do setorprivado; em outras, do público. Às vezes,o parceiro privado faz muito dinheiro como negócio; em outras, o governo abocanhaa melhor parte dos benefícios.
Negociação público-privadacomo principal característica dasparcerias público-privadas
Ainda que as negociações público-privadas variem muito, uma característica-chave de todas é que elas são tipicamentedesenvolvidas por meio de algum tipo denegociação entre aqueles que controlam osativos no setor privado, para fins privados,e aqueles que controlam os ativos no setorpúblico, para fins públicos. Desejo, aqui,enfocar as parcerias público-privadascomo negociações e acordos estabelecidosentre representantes da iniciativa privada edo setor público, por três motivos.
Em primeiro lugar, ao caracterizar essetipo de parceria como negociações, queroenfatizar sua natureza voluntária. O argu-mento é que um dos aspectos que distinguea idéia de parcerias da iniciativa privada deoutras relações entre o setor público e oprivado é que cada uma das partes podedeixar as negociações, se assim o desejar8.Elas não são obrigadas a participar.Conseqüentemente, cada parte precisaobter da negociação o suficiente paraatender os seus próprios objetivos, paraestar disposto a entrar em acordo. Isso, porsua vez, significa que os acordos feitospodem ser e são avaliados do ponto de
vista de cada parte da negociação. Nós,cidadãos, que estamos fora da negociação,podemos ficar mais ou menos satisfeitoscom o acordo realizado e imaginar que olado público do acordo deve ser domi-nante e maximizado na transação. O maisimportante, porém, é que nenhumanegociação que exija consentimentovoluntário das partes vingará, a não ser quecada parte possa melhorar a sua posiçãonos seus próprios termos.
Em segundo lugar, ao qualificaras parcerias público-privadas comonegociações estabelecidas entre represen-tantes, é importante lembrar das poderosastécnicas de análise de negociações paraajudar a compreender como os acordossão construídos e avaliados9. Isso nospermite examinar sistematicamente o quepode ser descrito como a estrutura danegociação: as partes, os seus interesses,os recursos e as ações que as partes secomprometem a realizar e a maneira comoo acordo distribui os ônus e os benefíciosde cumprir o acordo e concretizar suasambições. Permite, também, olhar de pertocomo os riscos associados a possíveisfracassos do acordo são distribuídos.
Em terceiro lugar, é importanteenfatizar a característica processual dessesacordos, especialmente pelo fato de que eles,em geral, acontecem em um contextoinstitucional e por meio de processos quediferem significativamente daqueles de quenos valemos para assegurar que poderes ebens públicos estão sendo, de fato, utilizadospara fins públicos. De modo geral, pode-se dizer que os poderes e bens do governosão empregados quando o legislativo age,quando um órgão regulador propõe umanova regulamentação após a realização dealgum tipo de audiência administrativa ouquando um tribunal julga determinadocaso. Mas os acordos, negociados por

RSP
159
Mark H. Moore
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 151-179 Abr/Jun 2007
representantes do setor público em nomeda população, não são como essesprocessos. Eles são muito menos formali-zados, menos públicos, menos transparentese menos representativos. Esse ponto, a meuver, é relevante porque o poder e os benspúblicos não estão menos comprometidosquando representantes governamentaisestabelecem acordos para criar parceriaspúblico-privadas do que quando um órgãolegislativo decide tributar ou regular oscidadãos para produzir determinadoresultado social ou quando um tribunaldecide ser procedente a demanda apresen-tada por um indivíduo contra o governo.O fato de poderes e bens governamentaiscoletivos serem utilizados em parceriaspúblico-privadas e o fato de instituições eprocessos, pelos quais esses acordos sãoconstruídos serem menos formalizados etransparentes cria um problema não apenassobre a substância do acordo realizado (seele é eficiente, para atingir os propósitos daspartes, e justo na maneira como os ônus eos benefícios são divididos) mas, também,sobre a legitimidade do acordo (se ele foiconstruído a partir de um processo quetenha levado em conta os interesses doscidadãos, tendo em vista a autoridade e odinheiro públicos nele comprometidos).Isso também levanta algumas perguntasimportantes sobre práticas a que osservidores públicos precisem recorrer paracriar parcerias público-privadas eficientes,justas e legítimas, bem como sobre critériosque eles e os cidadãos devem utilizar paraavaliar os acordos estabelecidos.
Parcerias e negociações na contra-tação de bens e serviços governa-mentais
As parcerias público-privadas maissimples são aquelas que o governo inicia
com um propósito público bem definidoe busca, então, a ajuda de parcerias privadaspara realizá-lo. A forma mais simples dessetipo de acordo é a terceirização. O governotem um propósito, algum dinheiro paragastar, e procura um ente privado quepossa ajudá-lo a atingir seus objetivos a umcusto menor do que atuando por contaprópria. A parceria fica registrada nocontrato redigido, que estipula resultadosespecíficos em troca de um retorno finan-ceiro específico.
Apesar de ser possível descrever taisrelacionamentos como parcerias, há váriosaspectos que merecem ser ressaltados emrelação a esses arranjos. O primeiro delesé que parece haver predomínio dospropósitos governamentais. São eles quedão origem à negociação, que mobilizama capacidade financeira para fazer anegociação. O ator do setor privado,normalmente, não é convidado a participarde uma busca conjunta por um problemae uma solução. O governo é quem decidequal problema deseja resolver e, muitasvezes, como resolvê-lo. A única questão ése a organização do setor privado desejaunir-se ao governo em seus esforços emtroca de dinheiro do governo.
Contudo, essa descrição exagerasignificativamente quando trata da naturezadas relações de contratação10. Os atores dosetor privado têm voz, sim. Eles a utilizampara sugerir produtos aos órgãosgovernamentais. Se eles não forem bem-sucedidos junto aos órgãos, poderão,muitas vezes, dirigir-se a alguém acima, na“cadeia alimentar” política, contatandolegisladores ou executivos eleitos. Às vezes,os parceiros do setor privado são aberta-mente convidados a desenvolver conceitos.O governo aceita idéias que não foramsolicitadas. Portanto, muitas vezes, há muitomais “toma-lá-da-cá” na definição dos

RSP
160
Criando valor público por meio de parcerias público-privadas
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 151-179 Abr/Jun 2007
propósitos das relações de contratação doque sugere um modelo excessivamentesimplificado de compras e contrataçõesgovernamentais. Parece ser mais recomen-dável mudar a nossa imagem decontratação governamental, como ummero esforço para comprar barato, paraum modelo de parceria, no qual haja certograu de exploração, inovação e soluçãoconjunta de problemas.
Por outro lado, também vale ressaltarque as partes envolvidas na negociação nãocompartilham dos mesmos objetivos. Aorganização privada pode ser indiferenteà meta alcançada e estar interessadasomente no dinheiro a ser obtido por seusesforços para produzir o que o governodeseja. E, de fato, os parceiros do setorprivado podem querer ganhar dinheirocom o governo, colocando um preçomuito acima dos seus custos sobreprodutos e serviços e transferir os riscospara o governo. Uma função importantedo agente de compras governamental éevitar que isso aconteça. A princípio, oresponsável pelas compras não estáinteressado no bem-estar do contratado,mas, basicamente – pode-se dizer quaseexclusivamente – em utilizar a capacidadedo contratado para realizar o fim públicoao menor custo possível para o governo.Se ele puder encontrar uma maneira decomprar em margem ao invés de pagar ocusto integral ou de passar o risco para ofornecedor privado, ele tem o dever deofício de fazê-lo.
No fim, ambas as partes desejam umacordo, o que torna a parceria uma idéiaplausível. Mas elas prefeririam um acordonos seus próprios termos. As partes podemnão chegar a um ajuste que atenda aosinteresses de ambos por não terem conse-guido obter o suficiente do acordo e,assim, sentir que a negociação foi justa. Não
tiveram a impressão de que poderiamconfiar em seu parceiro no futuro dianteda perspectiva de ter de renegociar ostermos à medida que os eventos tomavamum curso imprevisível.
Parcerias e negociações no incen-tivo ao cumprimento das regulações
Um segundo tipo de parceria público-privada ocorre no contexto de umambiente regulatório11. Nesse caso, ogoverno, mais uma vez, tem um propósitobem claro. É provável que, aqui, também,sejam estabelecidos alguns meios espe-cíficos pelos quais o governo precisa atingirseus objetivos. E essas expectativas e solici-tações específicas recairão sobre organi-zações determinadas, em contextosespecíficos, para atender padrões regula-tórios. Nas burocracias tradicionais do tipocomando-e-controle, a história terminavamais ou menos por aí. Mas no admirávelnovo mundo das parcerias público-privadas, este é apenas o início.
No mundo de hoje, guarda-se aexpectativa de que o objeto da regulaçãopossa apresentar uma proposta que, dealguma forma, seja melhor para todas aspartes do que a ação específica prevista nanorma reguladora geral. Os alvos dosesforços regulatórios podem conhecer umaforma menos onerosa de atingir o mesmoobjetivo regulatório ou podem sugerir ummétodo que não apenas reduza seus custos,mas cumpra algum outro propósito dogoverno ou da comunidade local. Ou, oque é mais complexo, eles podem ter umaexplicação sobre por que o objetivoregulatório desejado pelo governo, em umsetor específico, deveria ser consideradomenos urgente ou pouco relevante face aoscustos impostos, devendo, portanto, serisentos não apenas da obrigação de usar ummeio específico para atingir o objetivo

RSP
161
Mark H. Moore
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 151-179 Abr/Jun 2007
regulatório, mas também da própriaobrigação de cumpri-lo.
Em resumo, os atores privados regu-lados pelo governo começam a negociarum acordo novo e diferente daqueleincorporado de forma genérica pornormas reguladoras “no atacado”. Osreguladores do governo são solicitados afazer exceções em nome da melhoria dovalor geral da parceria.
Isso se parece ainda menos com umaparceria do que com uma contrataçãogovernamental. Um grande motivo é queo governo não está se propondo acomprar algo de um fornecedor dispostoa fazê-lo. O governo está forçando umator privado a contribuir para um objetivopúblico sem necessariamente receberqualquer compensação por seus esforços.A autoridade governamental, e não odinheiro governamental, está sendo utilizadapara atingir um objetivo por meio de umaparceria público-privada, e o parceiroprivado pode não ter outra escolha senãoconcordar (correndo o risco de multas ouprisão, caso deixe de fazê-lo). Essa é umadiferença importante, mas não chega a seruma diferença que acontece do dia paraa noite.
Em transações regulatórias, os atoresprivados têm as mesmas oportunidades detentar influenciar servidores governa-mentais a respeito do que deve serproduzido e de qual forma. Eles têm odireito de colocar que as circunstâncias queenfrentam são diferentes e que os interessespúblicos como um todo (tanto o que ogoverno está tentando realizar como atorpúblico, como o que os parceiros privadosestão tentando realizar como ator privado,também membro da sociedade) podemavançar de maneira diferente daquelasolicitada pelo governo. Caso não estejamsatisfeitos, eles têm o direito de buscar uma
solução no topo da “cadeia alimentarpolítica” ou ir aos tribunais e solicitarreparação. Eles sempre têm, também, aopção de resistir às demandas do governoou simplesmente abandonar as atividadesdo governo que considerem injustas,ineficientes ou ilegítimas.
Mas o que mantém viva a idéia dasparcerias público-privadas, até mesmo sobcircunstâncias regulatórias, é a crença de queambas as partes – a pública e a privada –
podem sair-se melhor se tiverem autori-zação para buscar um tipo de acordo umpouco diferente do que aquele sendoproposto pelo governo. O ar pode setornar mais limpo a um custo menor paraa empresa privada e com menos danos àeconomia local. Um local de trabalho podetornar-se mais seguro e mais confortávelpara os trabalhadores, a um custo menorpara o empregador, se os trabalhadores e
“Valor públicopode ser o que nósfazemos em prol dascondições públicasque gostaríamosde habitar e o quepodemos, coletivamente,concordar quegostaríamos dealcançar usandoos poderes doEstado”.

RSP
162
Criando valor público por meio de parcerias público-privadas
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 151-179 Abr/Jun 2007
a empresa puderem negociar longe dapossibilidade de uma ação regulatóriaameaçadora, que imponha um padrão desegurança arbitrário. Até o ponto em queesses acordos podem ser mais eficientesem produzir resultados positivos paraambos os parceiros – público e privado –,mais justos em distribuir os custos e osbenefícios de um esforço conjunto e maislegítimos aos olhos daqueles que participamda negociação e da sociedade em geral,sim, pode-se atribuir muito valor atais parcerias.
Negociações em torno dos usosprivados de bens economicamentemensuráveis e controlados pelogoverno
Um mundo diferente é aquele ondeas instituições privadas buscam fazer valeros seus propósitos por meio do governo.Foi o caso do Park Plaza. MortimerZuckerman, um empreiteiro privado, tentausar o poder de domínio eminente paraajudá-lo a reunir lotes de terras quepoderiam ser utilizadas para um projetode desenvolvimento urbano de grandeescala. Seu plano, se executado com a ajudado governo, poderia produzir muitosresultados que os cidadãos de Boston eseus representantes eleitos perceberiame usufruiriam como benefícios públicos.Uma área conhecidamente deteriorada,onde as drogas e o crime prosperavam,poderia ser reabilitada de modo a incentivaratividades econômicas, sociais e culturaismuito mais saudáveis. O valor econômicodos imóveis, bem como sua base tributária,aumentaria, permitindo à cidade compar-tilhar dos benefícios econômicospropostos por Zuckerman. Os grandesinvestimentos em construção civil gerariamum boom bem-vindo no setor daconstrução civil e para seus trabalhadores.
O próprio Zuckerman poderia atribuirvalor a esses benefícios públicos, bemcomo aos benefícios materiais privados queele espera obter para si e para seus parceirosinvestidores.
Como representante de uma empresaprivada com fins lucrativos, porém, o queZuckerman mais espera obter desse acordoé um significativo benefício para si. Eleespera ganhar muito dinheiro, de formaque tanto ele como seus investidorespossam gastar para seu bem-estar materialparticular. Tudo que ele precisa paraproduzir os benefícios, tanto privadosquanto públicos, é ser autorizado a usarum pouco de autoridade governamentalpara ajudar a reunir os lotes de terras ereceber um pouco de dinheiro públicopara ajudar a criar a infra-estrutura públicaadequada para a urbanização do local, ruas,sistemas de esgoto, etc.
Em sociedades liberais, é comumpensar que o governo não deve deter enão detém – a propriedade de bens, quetenham valor econômico em trocascomuns de mercado, e que o governo éum juiz das transações econômicas, e nãoum participante de peso em tais transações.Porém, o fato é que o governo, muitasvezes, detém ativos e poderes de valoreconômico extraordinário e, portanto,torna-se o foco de intenso interesse porparte do setor privado.
Isso fica óbvio se considerarmos opoder de decisão do governo para tributare regular como um tipo de ativo quepertence ao governo, tendo em vista queesse poder pode e é utilizado para darforma às transações econômicas e demercado. A política tributária é utilizada,hoje, não somente para encontrar amaneira mais fácil e justa de garantir receitaaos governos e aos seus propósitos, mastambém para criar incentivos para que os

RSP
163
Mark H. Moore
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 151-179 Abr/Jun 2007
atores econômicos “internalizem” algunscustos públicos associados às suas ativi-dades. A política regulatória também éutilizada pelo governo para internalizarcustos e benefícios sociais em transaçõeseconômicas comuns e para alterar o que éproduzido pelo mercado e a maneiracomo os ônus e os benefícios são distri-buídos entre os vários grupos quecompõem a sociedade. Se pensarmos aautoridade governamental como sendouma propriedade do governo e sepercebermos que o uso da autoridadefiscal e regulatória altera o que é produzidonos mercados, então, conseqüentemente,certos usos específicos da autoridadegovernamental geram um benefícioeconômico calculável. Os atores eco-nômicos podem ser favorecidos ouprejudicados pelo uso que o governo fazde seus poderes fiscal e regulatório. O nívelaté o qual esses atores são favorecidos ouprejudicados é aquele até o qual o governotem algo a negociar economicamente como setor privado. A pergunta importante,então, é o que o setor público deve negociarcom o setor privado.
É claro que o governo é um atoreconômico poderoso não apenas quandoimpõe tributos e normas reguladoras, mastambém, quando usa seu considerávelpoder econômico para dar forma aomundo em que vivemos. O governocontrola um enorme fluxo de poder degasto, que direciona propósitos públicospor meio dos mercados privados, damesma forma que os gastos dos consu-midores direcionam propósitos privadospor meio de mercados privados. Ogoverno é um grande comprador e o queele decidir comprar no mercado privadotem um profundo efeito sobre o que omercado produz. Parte desse efeito édireto: se o governo desejar comprar
submarinos, escolas e serviços de atençãopara idosos e se decidir autorizar quefornecedores privados concorram paraprestar esses serviços, canalizando seusrecursos por meio de contratos comfornecedores privados ou com a concessãode vales para beneficiários individuais, omercado entrará em ação e produzirá taisbens e serviços, nas quantidades e nosformatos que o governo incentivou.
Outro efeito importante é indireto: oque o governo escolhe para prover e alteraras opções que os atores privados presentesno mercado escolhem para fornecer oucomprar com seus próprios recursos. Seo governo fornece um sistema de educaçãoprofissionalizante de alta qualidade, asempresas privadas precisarão fornecermenos treinamento a seus funcionários. Seo governo oferecer benefícios aos aposen-tados, as empresas privadas não terão defazê-lo. Se o governo ofertar mecanismose serviços para fazer cumprir suas leis,garantindo a proteção da propriedadeprivada e o devido cumprimento doscontratos, as empresas não precisarãogastar dinheiro com essas atividades.
O governo também detém grandepoder econômico como fiador detransações financeiras12. De fato, garantiaspara empréstimos e atividades de segurosrepresentam um domínio no qual aseconomias de escala, bem como os bene-fícios públicos associados à atividade desegurar indivíduos contra acidentesimprevisíveis em suas vidas econômica esocial são tão grandes que se pode concluirque o governo tem uma vantagemeconômica natural como fornecedordesses bens e serviços. Não é preciso irmuito longe, contudo, para ver que adisposição e a capacidade do governo paragarantir empréstimos são um ativo atraentee economicamente mensurável, que chama

RSP
164
Criando valor público por meio de parcerias público-privadas
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 151-179 Abr/Jun 2007
a atenção dos atores econômicos privadosinteressados em proteger a si próprios deriscos inasseguráveis.
O governo é, ainda, um importantedono de propriedades físicas – vastosespaços de vida selvagem com valiososrecursos em madeira e minerais, parquesmunicipais, piscinas, campos de golfe,enormes estoques de resíduos sólidos e,em algumas cidades, grande número deprédios abandonados por seus proprie-tários. Como dono desses bens físicos, quetêm valor econômico tanto positivo quantonegativo, o governo, mais uma vez, torna-se o foco da atenção de particulares quegostariam de colocar as mãos em partedos bens valiosos, se o preço for apro-priado e, também, de não pagar suaparcela pelo tratamento dos ativosnegativos do governo.
Tendo em vista que o governo detéme faz uso da autoridade fiscal e regulatória– que tem valor econômico – e que é umimportante consumidor de certos tiposde bens e serviços, e que pode oferecerseguro contra perdas e que é dono de bensfísicos, ele age no mercado como um atoreconômico, bem como, fora ou acimadele, como ator governante. Comoparticipante do mercado, suas atividadeseconomicamente importantes tornam-seo foco da atenção de atores privados quegostariam de usufruir dos poderes e ativosdo governo. Estes apresentam-se, comoZuckerman o fez, com propostasbastante razoáveis sobre como taispoderes e ativos podem ser utilizados,tanto para o benefício privado quantopúblico. O governo pode ser convidadoa fazer parte de um acordo a partir dainiciativa do setor privado, assim como osetor privado pode ser convidado aparticipar de uma negociação a partir dainiciativa do governo.
O locus da iniciativa é importantepara a formação do acordo?
Na análise acima, os tipos de parceriaspúblico-privadas são diferenciados uns dosoutros, basicamente em termos de quallado toma a iniciativa para propor aparceria: o governo começa com seuspropósitos e encontra um uso para enti-dades privadas; ou o setor privado iniciacom os seus propósitos e encontra um usopara os poderes e os ativos dos órgãosgovernamentais. Essa é uma maneiranatural de pensar a respeito desses acordosporque, muitas vezes, acredita-se que umainiciativa está fortemente associada àquestão de quem está mais interessado nonegócio, ou cujos propósitos irão dominara formatação do acordo. Assim, aqueles,dentre nós, que estão preocupados com acapacidade dos atores de influenciar ecorromper o governo, sentem-se melhorquando o governo toma a iniciativa de criaruma parceria público-privada por meio deum contrato ou de algum tipo de regula-mentação. Aqueles, dentre nós, que pensamque o setor privado é muito mais criativoe imaginativo para encontrar formas deutilizar o poder governamental na realizaçãode propósitos públicos importantes (compotencial suficiente para interessar atoresprivados) sentem-se muito melhor quandoa iniciativa para uma parceria parte do setorprivado.
Mas pode ser um grande erroconfundir a idéia de tomar a iniciativa paraconversar a respeito de um acordo com ade ter o propósito dominante ou ser oprincipal beneficiário do acordo. Muitasvezes, tomar a iniciativa para propor umanegociação pode sinalizar uma certafraqueza na sua posição de barganha. Oiniciador pode precisar do acordo muitomais do que o parceiro passivo. Ao

RSP
165
Mark H. Moore
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 151-179 Abr/Jun 2007
perceber que isso acontece, o parceiro,aparentemente passivo, muitas vezes, podeser muito efetivo em formatar o acordosegundo o seu próprio desejo e obterbenefícios significativos.
Conseqüentemente, ao analisar asparcerias público-privadas, pode sermenos importante preocupar-se com aquestão de quem é a iniciativa. Em vezdisso, é melhor ocupar-se com o que umacordo específico de fato produz e comosão distribuídos os custos e benefícios dessaprodução conjunta. Para avaliá-lo comoeficiente, justo e legítimo, temos que analisara estrutura dos acordos à medida que elesevoluem, e seu desempenho à medida emque são executados – ao invés de olharmospara a história da sua evolução. Pode nãohaver nenhuma relação importante entrequem o iniciou, de um lado, e os propó-sitos de quem dominou o acordo ou quemacabou ficando com um maior retorno(absoluto ou relativo) do que o outro.
Analisando a estrutura dosacordos público-privados
Ao analisar a estrutura dos acordos, énatural, primeiro, olhar para o que cadaator ganha com ele. Ademais, por tratar-se de parcerias, e não de relações adver-sárias, muitas vezes, deseja-se começar aanálise argumentando que o acordo é umasituação de “ganha-ganha”, e que um dosaspectos que o torna assim é o fato de quetodos os atores envolvidos “compartilhamobjetivos”. Essas idéias são importantespara possibilitar e impulsionar a formaçãode muitas parcerias público-privadascriadoras de valor. Mas antes de concluirque os aspectos “ganha-ganha” dessesacordos não exigem uma inspeção minu-ciosa da distribuição de benefícios, ou queobjetivos compartilhados são uma
condição necessária ou suficiente para queesses acordos sejam firmados, pode-sepensar de uma maneira um pouco maiscrítica a respeito dessas idéias tão comuns.
“Ganha-ganha” e a distribuiçãodos benefícios da cooperação
Há um aspecto importante sob oqual todos os acordos bem-sucedidosprecisam ser analisados como “ganha-ganha”. Na teoria da negociação,aprende-se, como princípio, que nenhumator voluntariamente concordará com umacordo que o coloque numa situação piordo que se o acordo não fosse firmado13.Supõe-se que sempre há algo que um atorpode garantir para si na ausência de umacordo. Essa condição é descrita, analiti-camente, como “a melhor alternativa a umacordo negociado”, estando presentepara cada um dos atores envolvidos.
É claro, a melhor alternativa a umacordo negociado poderia ser péssimo doponto de vista de um dos atores.E poder-se-ia dizer que essa pessoa“precisava” do negócio muito mais doque as demais. Essa necessidade, dealguma maneira, teria coagido a parte emdesvantagem a aceitar um acordo quenão era especialmente vantajoso para ela,ou especialmente justo na maneira comoos benefícios da cooperação foramdivididos.
Porém, é verdade que uma das partesintegrantes sempre pode desistir do acordoe que não escolherá entrar em um negócio,a não ser que esse a deixe numa situaçãopelo menos um pouco melhor do que elaestaria sem o acordo. Conseqüentemente,quando um acordo é feito entre atorespúblicos e privados, pode-se supor quecada pessoa melhorou de alguma forma asua condição, em comparação com a nãorealização do negócio.

RSP
166
Criando valor público por meio de parcerias público-privadas
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 151-179 Abr/Jun 2007
O que essa observação desconsidera éa questão de quão melhor ficou cada umadas partes do acordo/negócio e, em especial,como o ônus e os benefícios associados aoacordo foram distribuídos entre os atores.Um negócio, realizado entre representantesdo setor público e da iniciativa privada,impõe deveres e confere privilégios a cadauma das partes. Esses deveres e privilégiossão rapidamente convertidos em custos ebenefícios materiais, avaliados pelos atoresenvolvidos.
Um exemplo seria o caso do ParkPlaza. Zuckerman buscou obter deMahoney o privilégio de usar o poder dedomínio eminente do estado para ajudá-lo a executar seu projeto de reurbanização.Mahoney, por sua vez, buscou extrair, deZuckerman, a produção de alguns bene-fícios publicamente desejados em troca deconferir-lhe o uso da autoridade estatal.
Deve ficar claro que há muitos grandesacordos que permitiriam a cada um deles(atuando em sua função social específica)sair-se melhor do que o faria sem onegócio14. Zuckerman poderia ser persua-dido a fornecer mais ou menos benfeitoriaspúblicas na forma de usos públicosatraentes, pagamento de impostos,empregos e moradia pública. Mahoneypoderia aceitar diferentes versões desseacordo tão complexo. Todos os arranjospermitiriam a eles saírem-se melhor do quesem o acordo. Nesse sentido, todos osnegócios são “ganha-ganha”. Mas osacordos irão diferir significativamente emtermos de qual deles irá receber quantodo valor total do acordo e como estevalor será distribuído entre os propósitosprivados (e públicos), que Zuckermanvaloriza e os benefícios (exclusivamente)públicos que Mahoney tinha a responsabi-lidade de produzir. Mesmo na situaçãoganha-ganha, uma parte pode ganhar um
pouco mais do que a outra. Esse pode sero foco de uma preocupação pública,quando uma das partes da negociação estánegociando em nome do poder público.
Também é importante observar queZuckerman e Mahoney podem compar-tilhar alguns objetivos. O bom cidadão,bem como o bom comerciante, podevalorizar vários dos mesmos propósitospúblicos que Mahoney tem a obrigação dedefender em função de seu cargo.Mahoney, como servidor público, podeperceber o bem-estar pessoal e o valorpuramente econômico do negócio queZuckerman está propondo, como algo queMahoney deveria estar interessado emapoiar da melhor maneira possível, dentrodos limites impostos por seu cargo. Mas éimportante considerar que eles nãocompartilham os mesmos objetivos. Hácoisas que Zuckerman realmente valoriza(como o alto retorno financeiro) e queMahoney tem o dever de não valorizar emabsoluto, ou de valorizar negativamente (elenão deve permitir que os poderes doestado sejam utilizados para prover “lucrosexorbitantes” a um dado empreendedor).Há coisas que Mahoney valoriza (a exemploda construção de moradias públicas, comoparte do empreendimento) que Zuckermannão o faz (seja por pensar que são ruinspor si só, ou achar que elas ameaçam oque ele efetivamente deseja, ou seja, umempreendimento privado altamente lucra-tivo). Ainda que valorizassem as mesmascoisas, eles poderiam atribuir pesos dife-rentes a elas. Em suma, Zuckerman eMahoney não têm exatamente os mesmosinteresses ou objetivos.
Assim, é importante que alguns obje-tivos compartilhados podem ajudá-los aencontrar e estabelecer um acordo mutua-mente satisfatório, o fato de não comparti-lharem todos os objetivos não os

RSP
167
Mark H. Moore
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 151-179 Abr/Jun 2007
impossibilita de negociar de formasatisfatória. Eles podem diferir um dooutro em relação ao que é importante evalioso produzirem juntos e, ainda assim,achar meios de cooperar. O motivo é queeles podem decidir agir com e em prolum do outro, de modo a dar a cada um oque lhe é importante (segundo seus própriosparâmetros) para que se mantenham nonegócio. Segundo consta, Jack Sprat, que“não podia comer gordura” e sua esposa,que “não podia comer carne magra”,conseguiram encontrar um modo decooperar a ponto de “limparem o prato”,ainda que (ou exatamente porque) discor-dassem profundamente sobre o que valiaa pena ser comido15.
Critérios de avaliação a seremutilizados em parcerias público-privadas
O fato de que as partes de um acordopodem apresentar tanto objetivoscompartilhados quanto divergentes, e queo acordo a ser estabelecido irá produzirresultados que são avaliados de formadiferente pelas diversas partes, significa queserá difícil realizar uma avaliação geral donegócio consumado. O motivo é que,nesses acordos, sempre há pelo menos trêsdiferentes perspectivas, que se sobrepõemde alguma forma, que podem ser usadaspara decidir se um acordo foi satisfatórioou não. A primeira perspectiva é a do atorprivado: faz-se uma avaliação em termosde quanto se ganhou com aquilo que foravalorizado de acordo com os seuspróprios termos. A segunda refere-se àparte pública: a avaliação é feita do pontode vista de quanto do que o ator públicovaloriza foi recebido pelo acordo. Aterceira perspectiva é a de algum atorexterno, por exemplo, um cidadão, queavalia o acordo considerando o que
pareceu eficiente, justo e legítimo no acordoentre o representante público e o privado.
O que é confuso, em relação a esseprocesso de avaliação, são as relaçõesimaginadas entre as diferentes perspectivas,pois não são inteiramente distintas. Aose pensar no acordo público-privadocomo uma simples negociação entre duaspartes iguais, parece natural avaliar oacordo em termos da perspectiva de cadaparte. Contudo, quando de um lado danegociação encontra-se o governo, muitasvezes, opta-se pela perspectiva de valor queesse apresenta, mais do que os propósitosde um único ator. De um lado, freqüente-mente, imagina-se que os propósitos dogoverno deveriam ser mais importantes doque os do ator privado; que os objetivosdo ator privado deveriam render-se àurgência social da situação. Por outro lado,imagina-se que um governo liberal deveriaestar tão preocupado com o bem-estar doator privado envolvido na negociação,quanto com os propósitos agregados quebusca alcançar. Mais precisamente, que obem-estar e os interesses (sem mencionaros direitos) do ator privado sejam valori-zados, honrados e considerados pelogoverno, em sua avaliação do negócio,juntamente com os propósitos que ogoverno tem acima e além desses interesses.Em suma, às vezes, pensa-se que o governodeveria incorporar a perspectiva privadana avaliação pública da negociação.
Pode-se, também, imaginar uma reivin-dicação semelhante na direção oposta: queo ator privado deveria incorporar, em suaavaliação do negócio, os importantespropósitos públicos que o governo esperaalcançar (e dos quais ele certamente podebeneficiar-se). Esse argumento é apresen-tado com menos freqüência.
Para tornar tudo isso um pouco maisconcreto, é necessário retornar ao exemplo

RSP
168
Criando valor público por meio de parcerias público-privadas
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 151-179 Abr/Jun 2007
do Park Plaza. Alguém pode argumentarque Mahoney não deveria ser indiferentenem hostil aos benefícios privados que eleestava sendo solicitado a considerar, masdeveria, ao invés disso, avaliá-los positi-vamente. Afinal, Zuckerman, seus parceirosinvestidores, os trabalhadores da construçãocivil que seriam empregados, os habitantesque receberiam moradias e os turistas queencontrariam atraentes hotéis para hospe-darem-se – todos eram indivíduos, cujobem-estar deveria ser motivo de consi-deração também por parte do estado. Sobessa perspectiva, Mahoney não deveriadesdenhar dos benefícios econômicos doprojeto proposto por Zuckerman. Eledeveria pensar no alcance desses benefícioscomo parte importante de seu dever. Defato, para que não restassem dúvidas arespeito, ele não dispunha apenas dos argu-mentos defendidos, nesse sentido, porZuckerman, mas também dos argumentosde dois atores públicos-chave em relaçãoao valor público do plano proposto: aCâmara de Vereadores e o Prefeito deBoston, que concordavam que os interessesprivados de Zuckerman eram quaseidênticos aos interesses dos cidadãos de, pelomenos, Boston, se não do estado comoum todo.
No entanto, pode-se também argu-mentar que a responsabilidade básica deMahoney não é promover os interesses deZuckerman em prol de sua própriariqueza privada, mas sim, um conjuntolimitado de propostas públicas, sobre oqual ele é especificamente instruído apromover por meio de regulamentos quelhe permitem decidir como o poder emi-nente de domínio poderá ser usado. Eledeve ter certeza de que o plano será suficien-temente completo e economicamentebem-sucedido, além de identificar quaisserão os benefícios públicos e privados que
serão gerados. Deve satisfazer-se com aprodução de alguns benefícios públicospara justificar o uso do poder público.Nesse sentido, o dever de Mahoney érestringir seus interesses à maximizaçãodesse conjunto especial de propósitospúblicos estabelecidos pelo governo.Ele deveria ignorar o bem-estar deZuckerman ou a contribuição econômicaque o empreendimento proposto podetrazer à economia de Boston. Essesinteresses serão resolvidos pelo própriomercado. Mahoney é responsável apenaspelos propósitos que não serão promo-vidos pelo mercado e que, mesmo assim,são percebidos como sendo publicamentevaliosos para a sociedade como um todo.
O interesse aqui é a questão de quaispropósitos Mahoney está defendendo emseu encontro com Zuckerman. Ele podedefender apenas propósitos públicos,excluindo os interesses de Zuckerman; oupode defender os interesses públicos queincluam os interesses de Zuckerman.Dependendo do que fizer, ele avaliarádiversas propostas de forma diferente,sentindo-se mais ou menos satisfeito comos acordos específicos que são propostos.
É nesse estágio que a terceira perspec-tiva pode ser utilizada: a perspectiva doscidadãos que observam o acordo e emcujo nome Mahoney supostamente estáatuando. A perspectiva dos cidadãos érelevante nesse caso, pelo menos, porqueo poder coletivamente detido pelo estadoestá sendo utilizado na negociação. Oscidadãos foram ouvidos por meio de seusrepresentantes eleitos na construção dalegislação que orienta Mahoney quanto àsquestões que ele deve exigir comocondições a serem cumpridas antes deinvocar o poder de domínio eminente.Portanto, na velha ordem , pode-se dizerque o dever de Mahoney é assegurar que

RSP
169
Mark H. Moore
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 151-179 Abr/Jun 2007
o acordo contemple valor público sufi-ciente para justificar o uso dos poderes dedomínio eminente; além disso, este desafiosomente terá sido superado quando eleestiver convencido de que as condiçõesestabelecidas na legislação foram atendidas.Uma questão importante a respeito danossa nova ordem, penso eu, é quetambém afirma-se que Mahoney deveria(não apenas como uma questão prática,mas também como uma questãonormativa) considerar o valor prático eeconômico que provém do empreen-dimento do Park Plaza. Em suma, ques-tiona-se se uma boa parceria público-privada é aquela em que os propósitospúblicos, governamentalmente estabe-lecidos, são maximizados (potencialmenteàs custas de alguns interesses privados) ouaquela em que a combinação dasdimensões de valor privativamente epublicamente indicadas e usufruídas émaximizada. Em outras palavras, quea perspectiva do cidadão a respeito danegociação deveria ser a mesma do atorprivado, a mesma do governo, ou estarem algum lugar entre as duas.
Observe que a análise desse acordo édifícil, não apenas de forma substantiva,porque não temos mais certeza sobre qualfunção utilitária deve-se usar para mensurá-lo, mas também de forma processual,porque não estamos completamente certossobre qual comunidade política decidadãos deveria ser usada para arbitrarsobre a questão de quão valioso é o acordopara a população como um todo. Umacoisa é perceber esse acordo como sendoum embate entre os lucros de Zuckermanversus o compromisso de Mahoney paracom os propósitos públicos. Nesse sentido,temos que considerar que os cidadãos deMassachussetts deram a Mahoney aobrigação de assegurar que haja interesses
públicos suficientes em projetos dedesenvolvimento que busquem fazer usodo poder de domínio eminente do estado.Outra, é ver o acordo como algo que incluiefeitos sobre os salários dos trabalhadoresda construção civil, a eliminação do que épercebido por muitos como sendo umainconveniência pública e uma maior basefiscal em Boston, o que conta com forteapoio por parte dos cidadãos de Boston ede seus representantes eleitos. A visão deBoston sobre o que deveria constituir valorpúblico suficiente para justificar o uso dopoder de domínio eminente, por parte doestado, parece estar mais próximo àposição de Zuckerman do que à deMahoney. E não está absolutamente claro– nem legalmente, nem moralmente – qualdas duas comunidades políticas envolvidasno caso (a Prefeitura de Boston e o Estadode Massachussets) deveria decidir a questãodo que constitui valor público.
Definindo “valor público” parafins de negociação
Isso levanta o que eu considero umaquestão intelectual e prática em desenvol-vimento e avaliação de parcerias público-privadas propostas. A questão crucial:como o valor público, que deveria ser apreocupação do lado público da transação,deve ser entendido e buscado? Se nós,cidadãos, e os servidores públicos quenegociam em nosso nome, não temoscerteza do que constitui valor público,então, fica difícil imaginar como osservidores que representam os nossosinteresses farão um bom trabalho emaplicá-los nas parcerias público-privadas,que estamos ansiosos por promover. Oque constitui o valor público a ser produ-zido por qualquer acordo é muito difícilde estabelecer. E a melhor maneira de

RSP
170
Criando valor público por meio de parcerias público-privadas
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 151-179 Abr/Jun 2007
aprender a pensar sobre o que constituiuma investigação pública adequada em umacordo público-privado pode ser umaanálise de exemplos concretos, ao invés defilosofia abstrata. Mas vale a pena esboçaros profundos problemas conceituais queexistem, bem como as questões concretas.As questões conceituais surgem devido anossa confusão sobre o que realmentequer-se dizer com valor público em oposiçãoao privado.
Três diferentes conceitos de valorpúblico
Falando em termos gerais, há trêsconceitos bastante diferentes de “valorpúblico”. Um é o padrão proposto pelaeconomia utilitarista e do bem-estar: valorpúblico é igual à soma das satisfaçõesindividuais que podem ser produzidas porum dado sistema social ou por umapolítica governamental16. É esse o padrãoaplicado quando se mede as políticaspúblicas em termos do “maior bem parao maior número de pessoas”.
Há três importantes característicasnesse conceito: é permitido a cada indi-víduo definir o valor segundo seu própriotermo; o processo de associar indivíduosa uma sociedade ampla, em que as satis-fações individuais simplesmente sãosomadas; sabendo que, sob certos pressu-postos, os mercados competitivos fazemum bom trabalho em organizar os recursosprodutivos na sociedade, de modo aalcançar o objetivo social.
Um segundo conceito de “valorpúblico” é a idéia de que valor público étudo aquilo que um governo devidamenteconstituído, atuando como agente de seuscidadãos, declara ser um propósito impor-tante a ser perseguido utilizando os poderese os recursos do governo. Esse é o padrãoutilizado quando se argumenta que os
servidores públicos devem estar preo-cupados em alcançar os propósitos quelhes foram outorgados por meio da açãolegislativa. É esse o padrão que encorajaMiles Mahoney a usar os poderes dedomínio eminente para promover odesenvolvimento econômico e social, massomente quando certos parâmetros forematendidos. Parâmetros, estes, que permitamaos cidadãos estarem razoavelmenteconfiantes de que algum bem público geralirá advir do uso desse poder extraordi-nário, em detrimento dos direitos àpropriedade individual.
Nesse segundo conceito, também hátrês características importantes, as quais odiferenciam do primeiro: em primeirolugar, o coletivo – e não o individual –que atua por meio de algum tipo deprocesso político, torna-se o árbitro dovalor; em segundo lugar, o coletivo quefaz a avaliação não é percebido como asimples soma das avaliações vinculadas aosresultados por parte dos indivíduos que oconstituem. Em vez disso, é percebidocomo um tipo de órgão deliberativo, quealcança um acordo coletivo acerca do quedeveria ser feito e que domina os pontosde vista dos indivíduos; por último,depende-se do coletivo para ajudar afocalizar e produzir resultados que sãoimportantes em um conjunto, tais como aprestação de bens e serviços públicos e arealização da justiça, bem como a maxi-mização do bem-estar material individualpor meio de operações de mercado.
Um terceiro conceito de valor públicobaseia-se em idéias dos conceitos anteriores:ou seja, o valor público consiste de propó-sitos importantes que podem incrementaro nível de satisfação individual usufruídopelos membros de uma organizaçãopolítica, que não necessariamente seriamalcançados por mercados competitivos

RSP
171
Mark H. Moore
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 151-179 Abr/Jun 2007
operando por si só, sendo que a organizaçãopolítica atribuiu ao governo a tarefa deajudá-la a alcançá-los coletivamente para seubenefício individual. Nesse conceito, ogoverno está especialmente autorizado erequerido a lidar com um conjunto parti-cular de condições, nas quais os mercadosnão serão eficazes para maximizar a somade satisfações individuais, tecnicamentefactíveis. Essas incluem: 1) lidar com“externalidades” (cuja escolha de umapessoa afeta o bem-estar de outras, mas asoutras não têm como registrar o fato juntoà primeira pessoa e não têm como negociaro preço a ser pago de forma a compensá-las por um dano do qual não está ciente, ouque estariam dispostas a pagar para usufruirde um benefício do qual ainda não estãocientes) e 2) produzir “bens coletivos” (dosquais os indivíduos não podem ser facil-mente impedidos de usufruir, mesmo nãotendo contribuído para a sua produção equando a utilização do bem por uma pessoanão reduz a quantia do bem que estádisponível para os outros). Tais circuns-tâncias impedem o mercado de fazer otrabalho de permitir aos indivíduos trocarcoisas que possuem com outras, de modoa agregar o máximo de bem-estar individual.
Uma afirmação coletiva de valorpúblico: redistribuição e paternalismoestatal
Na tradicional teoria das finançaspúblicas (ou, como diz Dutch Leonard, nateoria micro-econômica de governo), háoutras duas circunstâncias nas quais espera-se e permite-se que o governo interfira naatuação do mercado para definir umapreferência coletiva que tenha prioridade emrelação às preferências individuais. A primeiraé quando, coletivamente, decide-se, pormeio de um mecanismo governamental,que há insatisfação com a eqüidade dos
resultados do mercado: quando algunsindivíduos acabam alcançando um bem-estar material menor que outrem e outrosacabam recebendo mais, de forma aofender os conceitos individuais oucompartilhados a respeito de uma socie-dade boa e justa. Nesse caso, o coletivo,atuando por meio do governo, pode agirde modo a produzir resultados demercado mais eqüitativos. Essa circuns-tância trata do problema de que o mercadoresponde somente àqueles que têmcapacidade de pagar para atender seusdesejos, e alguns podem acabar ficandocom uma capacidade muito menor – ouaté mesmo sem nenhuma capacidade – depagar pela satisfação de suas necessidades.
A segunda, bem menos aceita, é anoção de que o coletivo poderia decidirque há aspectos valiosos para osindivíduos e para o coletivo, pelos quaisos indivíduos podem não estar dispostosa pagar, caso lhes seja permitido cometerseus próprios erros na tentativa. Essesaspectos foram tradicionalmente denomi-nados “bens de mérito”. Entre eles,encontram-se a educação, a saúde, acultura e, até mesmo, a capacidade deempatia e tolerância que os tornariam bonscidadãos democráticos. São descritoscomo “bens de mérito” para sugerir queo coletivo tem o direito, ou talvez, aobrigação de ajudar os indivíduos a sedesenvolverem em direção a uma vidavirtuosa. Até certo ponto, isso significa nãoescolher dentre as que são dadas, masbuscar formatá-las de modo a promovero crescimento individual humano esociedades democráticas competentes ejustas.
Essas duas últimas idéias, que justi-ficam a intromissão do governo nomercado, diferem das duas primeiras nosentido de que não estabelecem, apenas,

RSP
172
Criando valor público por meio de parcerias público-privadas
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 151-179 Abr/Jun 2007
alguns aspectos técnicos de produção epermuta para permitir ao mercadorealizar o seu trabalho de satisfazer prefe-rências individuais. Elas apresentam umnovo conjunto de preferências e um novoconjunto de padrões normativos a seremutilizados na orientação da atividadeprodutiva de uma sociedade como umtodo. Essas novas preferências e padrõesnormativos são aqueles que ou refletemas escolhas feitas pelo coletivo, ou referem-se a algum estado social agregado, ouainda, na maioria dos casos, a umacombinação das duas. De repente, emmeio a um mercado livre, aparece umárbitro coletivo de valores que fazescolhas sobre o que deveria ser produ-zido para os indivíduos e sob quaiscondições os indivíduos deveriam viver,as quais poderiam ignorar as preferênciase resultados que seriam produzidossomente por meio de trocas do mercadolivre. O coletivo comparece com prefe-rências, assim como os indivíduos.
É importante reconhecer que ainserção de um governo que atua emnome de alguma visão socialmenteconstruída sobre o que seria bom paraos indivíduos e para a sociedade em geralsugere uma idéia de valor público que trazde volta a idéia de que o valor público éo que os processos representativos dogoverno dizem ser, bem distante da idéiade que valor público não é apenas o quesatisfaz os indivíduos, ou apenas aquelesaspectos que um mercado não iráproduzir naturalmente. Quando se temum governo que age por meio do uso deativos e poderes para assegurar condiçõessociais agregadas, tem-se que fazer aimportante pergunta de como o própriogoverno orienta a si mesmo. E é aqui quehá a necessidade de atentar para as bases eprocessos da política, e não da economia.
A determinação política do valorpúblico
Uma maneira de compreender as basesda política é começar, mais uma vez, comos indivíduos e seus conceitos individuaisde valor. É claro que partir de indivíduosisolados, com valores que eles almejam ebuscam incorporar, é ignorar fatorespsicológicos e sociológicos importantessobre como chegar a ter valores e prefe-rências. Isso também pode ser visto comoum convite a imaginar que o conteúdo dosvalores e das preferências dos indivíduosseria egoisticamente material e nãoaltruístico; de forma mais ampla, seriapolítico17.
Mas não é necessário prosseguir nessecaminho já tão batido. Pode-se dizer, porexemplo, que os indivíduos têm valores queorientam suas ações específicas (ou seja, osvalores são individuais e importantes paraeles) e que se compreende que tais valores(individuais) são construídos socialmente.Talvez ainda mais importante: pode-seentender que valores individuais (porémconstruídos socialmente) incluem muitomais do que o bem-estar material e indi-vidual daqueles indivíduos específicos.Podem incluir, por exemplo, um fortesenso de identidade e preocupação arespeito do sofrimento de outros indi-víduos com os quais compartilham algumtipo de identidade. Podem incluir umconceito de uma sociedade justa e boa queos indivíduos buscam tornar realidade emsuas próprias vidas, por meio das atividadeseconômica, social e política. Portanto, osindivíduos podem ser percebidos comotendo visões sociais e políticas reais, queestão vinculadas às condições econômicas,sociais e políticas dos demais na sociedade.Tal visão poderia ser real no sentidocomportamental (essas preferênciaspodem orientar ações) e real no sentido

RSP
173
Mark H. Moore
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 151-179 Abr/Jun 2007
normativo (elas podem ser utilizadasadequadamente para a avaliação dascondições individuais e sociais), mesmo emum mundo onde somente os indivíduosestão autorizados a atuar como árbitrosdo valor das condições numa sociedadeou das políticas públicas concebidas paraalterar tais condições.
Nesse sentido, valor público poderiaser qualquer coisa que um cidadão consi-dera publicamente valioso. Isso se refere àsociedade em geral, e não ao bem-estarmaterial do indivíduo, o que não serianecessariamente uma visão coletiva do queseria bom para a sociedade. Poderia ser avisão idiossincrática de um profeta – oude um tolo. E o profeta ou tolo podem serum cidadão ou um representante do poderpúblico, na esfera privada ou pública.
Pode-se, também, ir adiante e afirmarque algo que é publicamente valioso não oé apenas quando se trata de condiçõespúblicas e não focalizadas no bem-estarmaterial próprio, mas, também, quando seganha algum grau de consentimento ouconcordância coletiva. Não se trata apenasda visão idiossincrática do profeta ou dotolo, mas, sim, da opinião mais ou menosestabelecida de uma comunidade política18.É nesse estágio que a idéia de valor públicocomeça a assumir a característica de umconjunto de valores políticos que poderia,como questão comportamental, promoveruma ação política ou cívica. Tais processospodem mudar a visão dos indivíduos arespeito do que é bom e justo. Eles tambémpodem construir a capacidade coletiva deagir de modo cívico, além de construir acapacidade coletiva de orientar o governoquanto ao modo como seus poderesdeveriam ser usados. A partir dessa pers-pectiva, então, o valor público consistenaqueles valores que os indivíduos e gruposvoluntários de indivíduos vinculam aos
estados da sociedade para além de seupróprio bem-estar material e individual, osquais eles procuram implantar por meio daação individual ou coletiva, cívica ou política.
Sempre pareceu-me importante que,ainda que as sociedades liberaisapresentem os direitos econômicos(especialmente o direito à propriedade)em suas constituições, elas tambémreservem um lugar especial para osdireitos políticos, tais como a liberdadede expressão e de associação, o direito aapresentar uma petição ao governo e odireito a eleger os representantes dopoder público, que podem empenhardinheiro e autoridade públicos em prolde propósitos específicos. Isso é impor-tante, porque se uma sociedade liberaldistribui direitos políticos aos indivíduos,ela não pode restringir as visões políticas,que são poderosamente expressas nasociedade, àquelas que são consistentescom uma visão libertária do governo.O governo pode ser usado da maneiraque os cidadãos desejarem e que sejapermitido pelos demais cidadãos. Supos-tamente, se os indivíduos detêm valoresa respeito do bem-estar dos demais e doestado agregado da sociedade, o bem-estar dos cidadãos pode ser incrementadose a sociedade, como um todo, alinhar-secom esses desejos.
Assim retornamos à idéia de que valorpúblico pode não ser o que, muitas vezes,supõe-se que é, ou seja, o máximo bem-estar (material) para o maior número deindivíduos alcançado pelos mercadoslivres. Em vez disso, ele pode muito bemser o que nós, como indivíduos, fazemosem prol das condições públicas quegostaríamos de habitar e o que podemos,coletivamente, concordar que gostaríamosde alcançar juntos usando os poderesdo Estado.

RSP
174
Criando valor público por meio de parcerias público-privadas
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 151-179 Abr/Jun 2007
Implicações práticas aos encar-regados de negociar o lado públicodas parcerias público-privadas
Ainda que pareça adequado enquantoquestão teórica, há enormes problemas,para aqueles com responsabilidadespráticas, de agir em prol do público. Arazão é que muitas vezes não fica claro quaispropósitos ou qual conceito de valorpúblico os cidadãos desejam que seusrepresentantes defendam e promovamcomo proposta de valor público em seusencontros com o setor privado. É incertoquais idéias de valor público devemorientar Miles Mahoney em seu encontrocom Mortimer Zuckerman.
O melhor guia para isso pode ser oregulamento que os servidores públicosprometem cumprir. Mas a dificuldade dosregulamentos é que eles são demasia-damente gerais e podem haver oportu-nidades para uma ação melhor em prolde propósitos tanto privados quantopúblicos, o que coloca o servidor públicoem uma situação desconfortável: mesmoquando incentivado a buscar o valorpúblico por meio de parcerias público-privadas, depende-se dele para defendernossos interesses nas negociações. Nãoestamos certos de como ele orientar-se-áem relação ao que constitui o valor a serdefendido. A indeterminação cria umproblema para quem está do lado dogoverno.
Significativa confusão a respeitodo que constitui valor público
Os representantes do poder públicoenfrentam pelo menos dois problemas-chave ao negociar parcerias público-privadas e ao comprometer ativospúblicos para essas parcerias. O primeiro,já discutido, refere-se à idéia de que o
principal propósito público a serdefendido pelo agente público nemsempre está totalmente claro. Aquelesque autorizaram o servidor público anegociar em seu nome, por exemplo, oslegisladores que autorizaram Mahoney ausar o poder de domínio eminentequando certas condições fossematendidas, asseguram que algo de valorpúblico (em oposição ao meramenteprivado) seria produzido por uso dessepoder – eles mesmos podem não tertido clareza sobre o que almejavamalcançar exatamente. Eles tambémpodem não ter tido clareza a respeitode até que ponto a sua idéia de valorpúblico incluía a produção de diferentestipos de valor privado, como sendo umimportante componente do valorpúblico que buscavam alcançar.
De forma mais concreta, boa parte daquestão, que é colocada a Mahoney, é se eledeveria reconhecer ou não como sendoimportantes dimensões públicas do valorpúblico, o fato dos empresários e traba-lhadores da construção civil lucrarem como projeto e que a arrecadação de impostosda cidade de Boston irá crescer. Ou essasquestões estão fora dos limites do seucálculo? Está claro que muitas pessoas quevivem em Boston e que são mais afetadaspor sua decisão parecem pensar que oprojeto tem valor. Além disso, seus repre-sentantes eleitos e os órgãos especializadosno nível local – dos quais o governo localdepende para tomar decisões a respeito dareurbanização – decidiram a favor doprojeto. Portanto, a questão jurídica, práticae normativa relevante é se Mahoney deveconsiderar os efeitos positivos sobre o bem-estar material individual para decidir se hábenefícios públicos suficientes que justifi-quem o uso do poder de domínio eminente,ou se ele deveria deixar tais considerações

RSP
175
Mark H. Moore
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 151-179 Abr/Jun 2007
fora de seus cálculos e recusar unir-se àparceria que está sendo proposta, até queos benefícios públicos específicos que ointeressam sejam apresentados.
Confusão processual a respeito dacomunidade política que pode arbitrarsobre o valor público da negociação
O fato da Prefeitura de Boston terparticipação nessa questão cria um segundoproblema para Mahoney. Mesmo quefossem claras as instruções recebidas pelolegislativo de Massachussets quanto àdefinição de valor público que deveriabuscar, ele enfrentaria uma questãomoral, prática e jurídica acerca de qualcomunidade política seria a correta paraajudá-lo a decidir a respeito do usoapropriado da autoridade pública. Mahoneytrabalha para o Estado e é orientado pelacomunidade política no nível estadual. Mashá um princípio básico no federalismo quefavorece decisões por parte daquelascomunidades políticas que são mais afetadaspela escolha. Com certeza, a cidadede Boston é mais influenciada peladecisão de Mahoney do que o estado deMassachussetts, de forma que se discute queMahoney deveria basear-se no julgamentodaquelas comunidades quanto ao valorpúblico ou, pelo menos, considerar seuspontos de vista ao avaliar o plano proposto.Caso ele deixasse de perceber esse aspecto,o legislativo estadual, movido pela insatis-fação política em Boston, aprovaria umalegislação que excluiria a decisão a respeitodo Park Plaza da jurisdição de Mahoney –uma iniciativa que somente foi evitada pelofato do governador ter exercido o seupoder de veto sobre a legislação para manterintacta a jurisdição de Mahoney. Assim,parece que o princípio político que diz quea decisão deveria ser tomada pelos maisafetados está presente no nível estadual, no
qual Mahoney está explicitamente autori-zado, tanto quanto no nível local.
Novas responsabilidades e novashabilidades para servidores públicosque negociam
Esses fatos criam novos e diferentestipos de responsabilidades para servidorespúblicos que estabelecem negociações comentidades privadas. De um lado, elesprecisam estar cientes da ambigüidade dospropósitos significativos que almejam pormeio do acordo. De outro, eles precisamestar preparados para encontrar formas deesclarecer os interesses públicos, mesmoquando eles estão negociando em nomedesse interesse. E eles precisam fazê-lo, nãosomente na esfera familiar de sua própriacomunidade política e de suas instituiçõese processos de autorização, mas tambémna esfera menos familiar de outras comu-nidades políticas e autorizadoras que dãoforma aos propósitos dos demais agentesprivados e públicos com os quais eles estãolidando.
Isso também sugere que pode haverresponsabilidades especiais para ajudar atornar os acordos público-privadostransparentes e abertos para um círculo maisamplo de atores interessados do queinicialmente é sugerido pela imagem de umacordo público-privado fechado. Para quetais negociações possam usufruir dalegitimidade, que é necessária no uso dequaisquer bens públicos, o público devepoder analisar, investigar e questionar oacordo feito em seu nome.
Conclusão
Muito provavelmente, as parceriaspúblico-privadas tornar-se-ão cada vezmais importantes à medida que as socie-dades buscarem formas de lidar com

RSP
176
Criando valor público por meio de parcerias público-privadas
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 151-179 Abr/Jun 2007
problemas sociais difíceis e os governosbuscarem se tornar mais responsivos eefetivos no alcance dos objetivos que associedades lhes atribuíram. Mas é impor-tante compreender que abraçar as parceriaspúblico-privadas não resolve o problemaque ainda paira sobre o uso dos poderesgovernamentais para alterar as condiçõeseconômicas, sociais e políticas. Comoqualquer parceria público-privada envolveos bens e poderes detidos pelo Estado emnome do coletivo, a qualidade da parceriapermanece sujeita a perguntas difíceis arespeito dos usos dos poderes do Estado,que sempre nos assolaram: como ospoderes, coletivamente detidos de umEstado democrático podem ser melhorutilizados para promover a prosperidade,a sociabilidade e a justiça em um mundoonde se tem não apenas diferentesinteresses materiais, mas também diferentesidéias a respeito do tipo de relacionamentospelos quais desejamos caracterizar associedades das quais fazemos parte? Taldeterminação continua a ser a tarefa dapolítica democrática.
Assim, é preciso compreender que, aoabraçar a idéia das parcerias público-privadas, não encontramos uma forma deevitar a política e aumentar a capacidade deresposta, eficiência e efetividade do Estadocomo agente dos propósitos sociais;simplesmente abrimos um novo domínio,mais micro, dentro do qual os cidadãosinteressados podem de novo considerar see como os poderes do Estado podem serlegitimamente e efetivamente empregadospara lidar com importantes condiçõessociais. Esse novo domínio está localizadoem algum lugar entre a legislação e a leiadministrativa, de um lado, e os processosjudiciais, do outro. É um domínio no qualos indivíduos que representam os órgãos eos interesses públicos e privados buscam
um acordo melhor do que aquele quesurgiria a partir desses outros, maisfamiliares, porém mais desajeitados.
Ainda que esses acordos sejampromissores, há motivos para preo-cupação. Entre eles, inclui-se a idéia de queas políticas e os propósitos dos quais osEstados dependem para orientar tanto aação pública quanto privada podemtornar-se menos gerais e, portanto, vulne-ráveis às preocupações sobre como o ônusde atender uma necessidade pública ourealizar um propósito público foi distri-buído de forma equilibrada e justa.E também a idéia de que quando ogoverno tem benefícios a oferecer, aoinvés de ônus a impor, a distribuição dessesbenefícios pode ser menos justa e consis-tente. Também deve haver a preocupaçãode que os interesses privados tendem apedir mais do que a sua fatia de benefíciospotenciais provenientes da colaboração eque os representantes do governo, incertosa respeito dos propósitos públicos defen-didos por eles, entregarão uma parcelademasiadamente grande aos poderososinteresses privados que eles enfrentam.
Para exorcizar esses medos, pode-se,somente, depender dos mecanismos dosquais se dependeu no passado: uma certaquantia de transparência no processo e nasubstância do acordo feito; um conviteàqueles que têm interesse de participar danegociação de expressarem o que pensam;um certo tipo de estadismo que se dediquea avaliar a força relativa dos valores queestão em jogo na negociação. O objetivo,claro, é assegurar que cada acordo realizadoem nosso nome seja, de fato, não apenaseficiente, mas também eqüitativo e justo.
O trabalho de formar parceriaspúblico-privadas, portanto, não podeapenas se dar em torno da eficiência queprovém da constatação de que o governo

RSP
177
Mark H. Moore
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 151-179 Abr/Jun 2007
pode ajudar os atores privados a alcançarseus propósitos, nem ser do tipo queprovém da permissão para que o governoalcance os propósitos que lhe foramdesignados de forma mais eficiente eefetiva. O trabalho tem que ser do tipoque sempre ocorreu na governança demo-crática: o trabalho de associar ativos easpirações públicas e privadas para alcançarpropósitos que são publicamente valiosos,por meio de métodos que são percebidoscomo legítimos e justos, e que demonstramser eficientes e efetivos. Isso exige mais ediferentes tipos de trabalho político eestadismo do que os servidores, que sãoconvidados a realizar as negociações
normalmente dispõem. Assim, a tarefa decriar valor público por meio das parceriaspúblico-privadas não é apenas um desafioaos arranjos institucionais, que são feitospara orientar as interações entre o públicoe o privado, mas também aos indivíduosque ocupam posições específicas dentrodesses arranjos governamentais e precisamencontrar meios de promover propósitospúblicos da melhor forma possível. Quese possa ter esperanças de que a prática e areflexão continuada sobre o que as práticasproduzem irão ajudar os servidorespúblicos a cumprir as responsabilidades dedue diligence que eles detêm ao estabelecernegociações em nome do público.
Notas
* Versão preliminar do discurso a ser realizado perante o X Congresso do CLAD, em Santiagodo Chile, em outubro de 2005. Favor não reproduzir ou citar sem a expressa permissão do autor.Publicação autorizada pelo autor em 22 de janeiro de 2007. Tradução feita por Anja Kamp.
1 Para uma análise de uma possível explicação sobre o porquê dos cidadãos nos EstadosUnidos terem perdido a confiança no governo, ver NYE Jr, Joseph S.; ZELIKOW, Philip D.; KING,David C. Why people don’t trust government. Cambridge: Harvard University Press, 1997.
2 Responsabilidade social corporativa como um movimento bem sucedido. Ver artigos emEconomist.
3 Sobre a idéia de empreendedorismo social, ver BORNSTEIN, David. How to change the world:social entrepreneurs and the power of ideas. Oxford: Oxford University Press, 2004.
4 DRAYTON, William. Ashoka, Comunicação pessoal.5 DIVER, Colin. Park Plaza. Cambridge: Kennedy School of Government (Caso no 707.0).
Também analisado intensamente em MOORE, Mark. Creating public value: management in government.Cambridge: Harvard University Press, 1995.
6 SOBEL, Dava. Longitude: the true story of a lone genius who solved the greatest scientificproblem of his time. New York: Walker Publishing, 1995.
7 Para uma análise dessa distinção básica, ver: WEINTRAUB, Jeff; KUMAR, Krishan. Public andprivate in thought and practice: perspectives on a grand dichotomy. Chicago: University of ChicagoPress, 1997.
8 Caracterizar acordos como voluntários não significa que não haja preço a ser pago caso umadas partes desista do contrato. Significa, apenas, que uma das partes pode decidir, a princípio, seestará envolvida e que esta decisão não implicará em morte, sofrimento próprio ou de outra parte

RSP
178
Criando valor público por meio de parcerias público-privadas
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 151-179 Abr/Jun 2007
caso o acordo seja negado. Em outras palavras, significa que qualquer pessoa comum pode se sentirfísica ou moralmente compelida a aceitar o acordo. Existe material suficiente de bem-estar e dignidadehumana que permite que uma das partes diga não ao acordo que não desejar.
9 Para uma discussão sobre análise de negociação, ver: RAIFFA, Howard. The art and science ofnegotiation. Cambridge: Harvard University Press, 1982; LAX, David A.; SEBENIUS, James K.The manager as negotiator. New York: The Free Press, 1986.
10 KELMAN, Steven. Procurement and public management: the fear of discretion and the quality ofgovernment performance. Washington: AEI Press, 1990.
11 COGLIANES, Cary; NASH, Jennifer. Management based strategies for improving private sectorenvironmental performance. Cambridge, Mass.: Kennedy School of Government, 2005.
12 LEONARD, Herman B. Checks unbalanced: the quiet side of public spending. New York, NewYork: Basic Books, 1986.
13 LAX, David; SEBENIUS, James. Manager as negotiator, pp. 46-62.14 Na teoria da negociação, o conjunto de acordos que permitiria a cada ator sair-se melhor –
segundo seus próprios termos – do que sua ‘melhor alternativa para um acordo negociado’ édenominado a zona de possível acordo ou ZOPA, em inglês. Ver RAIFFA, The art and science ofnegotiation, pp. 44-65.
15 LAX e SEBENIUS referem-se a isto como “dovetailing preferences” (preferências articuladas).Ver: Lax; Sebenius, Manager as negotiator, pp. 90-94.
N.T.: Referência a uma rima infantil tradicional inglesa: Jack Sprat could eat no fat/His wifecould eat no lean/And so, between them both, you see, they licked their platter clean (Jack Sprat nãopodia comer gordura / Sua mulher não podia comer carne magra / E assim, os dois juntos, veja só,limpavam o prato).
16 A definição clássica dessa proposição está em BENTHAM, Jeremy. An introduction to the principlesof morals and legislation.
17 MANSBRIDGE, Jane (ed.). Beyond self-interest. Chicago: Universtity of Chicago Press, 1990.18 YANKELOVICH, Daniel. Coming to public judgment: making democracy work in a complex world.
Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press, 1991.

RSP
179
Mark H. Moore
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 151-179 Abr/Jun 2007
Resumo – Resumen – Abstract
Criando valor público por meio de parcerias público- privadasMark Harrison MooreO propósito deste trabalho é avançar em direção ao desenvolvimento de um marco analítico
que ajude a avaliar as parcerias público-privadas, tanto à luz do conceito geral, como de propostasespecíficas concretas. Para isso, inicia-se o artigo com um breve caso para ilustrar o problema demodo geral e, em seguida, desenvolve-se um marco analítico para ajudar o setor público a aprendercomo realizar suas responsabilidades de due diligence (checagem) de forma mais eficiente.
Palavras-chave: parceria público- privada; negociação; interesse
Creando valor público a través de asociaciones público – privadasMark Harrison MooreEl propósito de este documento es dar algunos pasos preliminares en el desarrollo de un marco
de referencia que pueda ayudarnos a investigar la asociación público- privada como idea general tantocomo propósito específico y concreto. Para esso, iniciarse el texto con un corto caso que ilustra elproblema general, y luego desarrollaré un marco de referencia analítico que ayude al sector público aaprender cómo enfrentar con diligencia y responsabilidad este proceso y hacerlo, así, con mayor efectividad.
Palabras-clave: asociacioes público- privadas; negociación; interés
Creating public value through public-private partnershipsMark Harrison MooreThe purpose of this brief paper is to take some preliminary steps in developing an analytic
framework that is able to help us scrutinize public-private partnership both as a general idea, and asspecific, concrete proposals. Therefore the text begins with a short case to illustrate the generalproblem, and then develops an analytic framework to help the public sector learn how to perform itsdue diligence responsibilities a bit more effectively.
Keywords: public-private partnerships; dealing; interest
Mark Harrison MooreHauser Professor de organizações sem fins lucrativos e Diretor do Centro Hauser de organizações sem finslucrativos. Fundou e atuou como presidente do Comitê de Programas Executivos da Kennedy School durantemais de uma década. Suas áreas de interesse e pesquisa são gestão pública e liderança, mobilização comunitária dasociedade civil e políticas públicas e gestão da justiça criminal. Suas publicações incluem: “Creating public value:Strategic management in government”; “Buy or bust: the effective regulation of an illicit market in heroin”;“Dangerous offenders: the elusive targets of justice”; “From children to citizens: the mandate for juvenilejustice”; e “Beyond 911: a new era for policing”. O trabalho do Professor Moore enfoca as maneiras pelas quaisos líderes de organizações públicas podem engajar as comunidades para apoiar e legitimar seu trabalho e o papeldesempenhado pelos compromissos de valor na promoção da liderança em empresas do setor público.Contato: <[email protected]>.


RSP
181
Rose Marie Caetano
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 181-211 Abr/Jun 2007
Legitimidade da liderançano Ministério da Saúde –
um ensaio*
Rose Marie Caetano
Entender como a liderança dos dirigentes pode melhor conduzir os trabalha-
dores e, com isso, aprimorar a prestação de serviços públicos, é algo que deveria
ser mais bem explorado. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é investigar algumas
condições conjunturais que influenciaram a qualidade da gestão e a legitimidade
do cargo de dirigentes, no caso, no setor saúde. Trata-se de uma reflexão sobre as
características e mudanças na gestão pública nos últimos anos e uma sondagem a
respeito da percepção quanto à qualidade da gestão e seleção do gestor para legiti-
midade da liderança sob o ponto de vista dos subordinados. O trabalho, orientado
para a gestão de pessoas em uma análise do estilo de gerência, tem como área de
interesse o Ministério da Saúde, no nível federal.
O artigo segue três eixos de observação, sendo os dois primeiros uma
pesquisa bibliográfica, apresentando as transformações da gestão no serviço
público ocorridas no mundo e no Brasil, bem como as relações de poder
existentes nas relações humanas e sua relação com a liderança; o último eixo,
uma pesquisa junto aos trabalhadores em áreas administrativas do Ministério

RSP
182
Legitimidade da liderança no Ministério da Saúde – um ensaio
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 181-211 Abr/Jun 2007
da Saúde, em Brasília, que teve comoobjetivo verificar a percepção dos subor-dinados em relação aos seus dirigentes.
As informações tanto da pesquisabibliográfica quanto dos questionáriosaplicados devem ativar uma discussão quehá muito permeia o ambiente da gestão edevem sensibilizar os responsáveis pelaseleção ou indicação para cargos de gestão,da importância dos seus atos para a eficiênciae efetividade do serviço público de saúde.
As chefias são responsáveis no que serefere a desenhar o perfil profissiográfico paragestão de pessoas, fazendo seleções cons-cientes com base técnica descolada deinteresses de arranjos políticos, devendoproporcionar capacitação adequada aosdirigentes, oferecendo e promovendo cursos,palestras e oficinas de qualidade nas áreas degestão e gerenciamento de pessoal, melho-rando, assim, a competência e habilidade dosdirigentes para com suas equipes e conse-qüente reflexo no ambiente de trabalho que,em uma cadeia de ações positivas, atingirá obem-estar e a saúde da população.
Acredita-se que o momento históricointerfere na conduta do gestor, por isso alinha de percurso da gestão no serviçopúblico, seu trajeto e mudanças, bemcomo as orientações políticas paralelasserão consideradas. O propósito é ter umcenário de fundo do momento histórico-político que interfere no entendimento dasituação da gestão pública.
A administração pública nomundo e as tendências globaisno gerenciamento dos recursoshumanos
Tem sido um movimento mundial cadavez mais intensivo a reestruturação no serviçopúblico, tanto em forma como emconteúdo. Algumas experiências, melhores
práticas, erros e acertos são relatados ecompartilhados como possíveis e inova-doras soluções para os novos problemasem gestão. Diferentes trabalhos descrevemas tendências mundiais, evidenciando aexistência de uma convergência decontextos, seja quando da identificação elevantamento de problemas, seja nassoluções apresentadas e adotadas. Comoconclusão, tem-se que as semelhanças entreas instituições são mais comuns do que asdiferenças.
As constantes mudanças nas relaçõesde trabalho são ponto comum. Algunspaíses passam por problemas de aposen-tadorias antecipadas (Canadá) ou liberali-zação econômica (Malásia), tal qual o Brasil.Donald Hall (2002) comenta em seusestudos que “as instituições reagemajudando a municiar os gerentes para queorientem e lidem com a mudança. Parecemexistir dois aspectos principais em relaçãoa esses esforços. Primeiro, as instituiçõesoferecem treinamentos de conteúdoespecífico sobre as reformas, como, porexemplo, sobre as novas regras e proce-dimentos de governabilidade da U.E.Segundo, elas implementam treinamentosem competências e habilidades para agestão da mudança”.
Sobre liderança, o autor afirma quealguns centros de capacitação têm comodestaque três aspectos: competências parao trabalho em equipe, política e comuni-cação estratégicas, e “trabalhando com oParlamento”, todos três eixos enfatizandoliderança, ética e gestão da qualidade (2002).
Em vários países do mundo, bemcomo no Brasil, a preocupação dosgovernos em relação aos gestores começoucom o esfacelamento do Estado, na décadade 70. A intervenção estatal então eranecessária para garantir o emprego. Depoisdisso, uma nova dimensão do problema

RSP
183
Rose Marie Caetano
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 181-211 Abr/Jun 2007
surgiu e a reforma do Estado passou afigurar como palavra de ordem na gestãopública. Além disso, um novo conceitoaparece, o Welfare State que correspondia àdimensão social do modelo proposto.
Abrucio, em seus textos, comenta queo Estado de Bem Estar tinha comoobjetivo primordial a produção de polí-ticas públicas na área social (educação,saúde, previdência social, habitação, etc.)para garantir o suprimento das necessi-dades básicas da população. A introduçãodo modelo gerencial no setor público fazparte desse contexto. Resta saber quaisteriam sido as condições para a mudança.
A saída para o impasse poderia ser aseleção de servidores, estruturada e organi-zada segundo reais necessidades, e a consti-tuição de cargos em carreira de formatransparente e bem remunerados. Noentanto, Ian Gow (2004) comenta sobreum estudo feito no Canadá, mas queparece dirigido ao caso brasileiro:
[...], temos uma longa tradição derecrutar pessoas de fora do serviçopúblico para ocupar cargos emescalões relativamente altos”.
[...] o surgimento da preocupação comcarreiras no serviço público ocorreu nocontexto de forte enxugamento do Es-tado e da partida iminente de grandenúmero de servidores graduados queestão chegando na idade de se aposentar(41% dos atuais dirigentes se aposentarãonos próximos dez anos). A reestruturaçãoe o enxugamento ocasionam perdas emtodos os lugares, gerando uma “crisesilenciosa”.
A partir daí, fatalmente surge apergunta: Até quando se suportará essa“crise silenciosa” no Brasil? Em qualgoverno ela se tornará a “crise do apagão
do servidor público?”. Recentemente,várias denúncias públicas na mídia mostramcasos de nepotismos e constantes expo-sições de funcionários contratados porempresas terceirizadas ou organismosinternacionais, com salários díspares emrelação aos dos servidores de carreira. Sãotrabalhadores despojados de direitos(aposentadoria, licença saúde, participaçãoem cursos, etc.) da carreira de servidorpúblico e que muito se parecem com as
características descritas no serviço públicofederal no Canadá àquela época.
Indicações inapropriadas existem emtodos os ambientes de trabalho, masprovavelmente acontecem com maisintensidade no serviço público devido àsinúmeras mudanças de governo, sobre-tudo quando governos de coalizão ou decomposição são as palavras que definemos “conchavos” de várias ideologias, que
“É precisoconsiderar quemesmo em umademocracia,interesses pessoaisestão espelhadosnos votos e naretribuição defavores”.

RSP
184
Legitimidade da liderança no Ministério da Saúde – um ensaio
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 181-211 Abr/Jun 2007
trazem orientações distintas em suassincrasias. A cada mudança ministerial, àsvezes ocorrem diversas em um mesmogoverno, as direções e as prioridadesmudam. Trocam-se os chefes e os sub-chefes e o rompimento da continuidadena gestão causa danos (ainda não cienti-ficamente medidos), que podem serpercebidos na desmotivação, ou melhor,no descrédito dos servidores. Não éincomum criar-se um cargo/serviço paraatender a empregabilidade de alguémindicado, buscando-se, poucas vezes, oprofissional adequado e com conheci-mento técnico e perfil desejado paraatender à demanda do trabalho. É precisoconsiderar que mesmo em uma demo-cracia, interesses pessoais, ou particularesde grupos, estão espelhados tanto nosvotos como na retribuição de favores nocumprimento dos mandatos.
Nos estudos sobre a composição damassa trabalhadora no serviço público,observa-se que muitas vezes o interessepróprio é conflitante com a ideologia dobem-estar comunitário e, por isso, écomum a identificação de destituição ere-ocupação de cargos gerenciais, substi-tuídos conforme indicação político-partidária logo após a eleição de um novogoverno, que conseqüentemente define anova composição ministerial. É precisoadmitir que tais ocorrências não são dirigidasa um governo específico, tampouco o fatoé atributo brasileiro. A literatura mostra queoutros países democráticos enfrentam amesma situação.
O problema, porém, deve estarcentrado no tamanho da “onda denomeações” em prol da nova ideologiapolítico-partidária instalada pela votaçãodireta do povo. Em algumas situações, issopode atingir a todos os níveis e não apenasaos dirigentes de primeiro, segundo ou
terceiro escalão, desajustando e desestabi-lizando os sistemas reinantes, que perdemconstantemente (ou, na melhor dashipóteses, a cada quatro anos) a conti-nuidade das ações administrativas.
Francisco Longo (2003), sobre diri-gentes políticos, comenta a influênciapolítico-partidária para a formação da castade dirigentes no serviço público. Ele colocaem cena outro ator que disputa espaçocom as ocupações por cargos políticos: sãoos profissionais burocratas, representadospelos técnicos e especialistas incorporadosà administração para prestação de serviçosespecíficos. Serviços esses que necessitamcada vez mais de especificidades técnicaspara acompanhar o desenvolvimento. Issose dá porque os dirigentes no serviçopúblico não se preocuparam em formartécnicos com expertise suficiente paraenfrentar os avanços tecnológicos, porexemplo, na área de informática (o mesmoacontecendo em diversas outras áreas).A maioria desses profissionais especia-lizados ou ingressa no serviço público(contratados por organismos interna-cionais) oriundos do mercado, ou prestaserviços como terceirizados.
Os servidores de carreira para galgarcargos disputam, de um lado, com a repo-sição gerada pelo atendimento à demandapuramente político-partidária de retribuiçãode favores e, de outro, com a necessidadede profissionais capacitados segundo asnovas tecnologias para dar conta dasexigências de melhoramento dos serviçosoferecidos pela máquina estatal. Comocomentado acima, os servidores não sãocontemplados com eficientes e constantescapacitações, existindo, inclusive, normas quelimitam sua participação em capacitações1.
Longo (2003) chama de flexibilidade aslivres nomeações dos dirigentes no setorpúblico. Assim, os estatutos e as legislações

RSP
185
Rose Marie Caetano
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 181-211 Abr/Jun 2007
tornam-se adaptáveis à situação para atenderaos requisitos. Os cargos de Direção eAssessoramento Superior (DAS), quenecessariamente não precisam ser preen-chidos pelos servidores de carreira, foraminicialmente criados para trazer compe-tências e conhecimentos externos e arejar agestão; hoje, muitas vezes, atendem inte-resses políticos e provocam uma disputainjusta com os servidores, o que deforma alógica da carreira no serviço público.
Para minimizar esse efeito, o autorcomenta que, em alguns países, há umadiferenciação entre os cargos de dirigentes quedevem ter cunho político. Existe umrespeito aos cargos que devem obedeceràs regras contratuais que envolvem aresponsabilidade por resultados, conceitoeste que vem alcançando espaço no mundodo serviço público, sobretudo diante dasúltimas reformas estatais. Alguns países,quando da seleção, atendem a necessidadestécnicas para o preenchimento das lacunas.Há acompanhamento e avaliação dedesempenho, além, é claro, de uma polí-tica salarial transparente e, não necessa-riamente, horizontal. Isso oferece maisseriedade ao processo de preenchimentodos cargos e mais estabilidade e qualidadeao serviço público.
No Brasil, a maior parte do quadrode servidores assumiu em concursospúblicos há mais de 20 anos, e por isso,esse quadro vem envelhecendo sem supriras vacâncias. Dessa forma, diferentesformas de contratação de pessoal foramcriadas. Como o presente trabalho trata dalegitimidade das lideranças, resta saber:quem são os dirigentes? Os “servidores dacasa” ou os contratados temporários queocupam esses cargos por tempo limitado?
A falta de renovação nos quadrospúblicos provoca desmotivação, além deser fator impeditivo para que uma reno-
vação de idéias e de estrutura surja com oingresso de um pessoal mais bem prepa-rado, trazendo assim um novo perfil aoserviço público.
Olhando sob a ótica dos servidores,percebe-se que provavelmente os fatoresacima contribuíram para que, pouco apouco, o serviço público deixasse de serreferência de bom emprego. Com isso, osserviços públicos oferecidos à populaçãocada vez mais se distanciaram tecnicamentedos serviços apresentados pelas empresasparticulares. Cabe lembrar que, há poucomais de 20 anos, as escolas públicas, desdeo ensino primário até as universidades,eram as melhores, e os melhores hospitaiseram indiscutivelmente os públicos. Oservidor público, além de bem remu-nerado, tinha orgulho e status perante asociedade.
A atratividade de uma carreira bemestruturada, de bons salários e de estabili-dade no emprego já não são mais verdadeabsoluta, e o Estado não teve oportunidadede se reestruturar, se entender e sereprogramar para ser um bom empre-gador/gestor, isso é, promover boasseleções e apresentar uma carreira quevalorize aos que se mantêm atualizados, àfrente de novas idéias, lançando mão denovas tecnologias e buscando a otimizaçãodos recursos. Transformação esta que acon-teceu em escala maior no setor privado.
O que a reforma do Estado tevea ver com tudo isso?
Idealizada por Bresser Pereira, areforma do Estado foi decorrência de umfenômeno de transformação que já vinhaocorrendo no mundo e cujo reflexo noBrasil era previsível. Passado o tempo do:“Milagre brasileiro”, do “Vamos fazer 50

RSP
186
Legitimidade da liderança no Ministério da Saúde – um ensaio
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 181-211 Abr/Jun 2007
anos em 5”, do “Ouro para o Brasil” e do“Exportar é o que importa”, modismosque representaram época, tornou-se neces-sário o estabelecimento de diretrizes parauma nova condução da máquina estatalressonante com a transformação que seobservava.
Quase um slogan para a época, curtoe direto, reforma do Estado, era expli-cativo por si só. O marco histórico acon-teceu pela criação do Programa Nacionalde Desburocratização (1980).
As mudanças surgem com a globa-lização da economia e a forte influência dacrise do Estado, que não tem mais domíniosobre a situação financeira: a exaustãofinanceira (SOUZA; ARAÚJO, 2003). Ofenômeno da perda da credibilidade doEstado é agravado pelo baixo atendimentodas expectativas sociais, que aumentamgradativamente com os adventos tecno-lógicos. O controle do setor público pelosetor público começa sua falência. Em seulugar, surge o controle social representadopelos sindicatos, ONGs, movimentossociais, etc. A reorganização do setor épremente e se inicia com a adoção demelhores ferramentas de gestão na buscada eficiência e produtividade. Surgem asprimeiras idéias para a descentralizaçãocomo método de melhorar a eficiência edar mais atenção às expectativas docidadão, indo até ele ou trazendo-o paraparticipar das priorizações e orientaçõesquanto ao atendimento de suas demandas.
A Reforma objetivava o ajuste fiscal epretendia alcançá-lo pela transformação daadministração burocrática em adminis-tração gerencial, evidenciando, assim, aimportância dada à figura do gestor.Os pressupostos do modelo propostotinham vertentes na economia, na adminis-tração e no campo judicial. O novomodelo gerencial exigiria mais autonomia
do gestor, imposta pela necessidade deconhecer princípios de economia, poisdurante muito tempo a administraçãofinanceira das áreas públicas ficou centrali-zada em um núcleo administrativo quedetinha o saber e as informações, umnúcleo voltado exclusivamente para orça-mento e finanças, sem perceber ouentender suas conseqüências ou probidades.Muito pouco, ou quase nada, tinha deenvolvimento do dirigente que adminis-trava sem a preocupação de custos. Diantedas novas propostas, o dirigente, premidopelas mudanças no âmbito econômico doEstado, deveria mudar seu comporta-mento, ampliando o escopo de sua gestão.
Provavelmente foram essas novasidéias, que tinham como pano de fundo oconceito de resultado e a preocupação comas áreas “deficitárias”, que, para o governoda época, deram asas à instalação doneoliberalismo. Com o mote do neolibe-ralismo, e suas idéias de resultados baseadosapenas em dados econômicos, houve umadesconsideração do Estado de Bem-Estar,em que a saúde é ponto fundamental dobem-estar para o cidadão.
Os impactos da globalização e opressuposto das novas tecnologias nãosuportadas pelo Estado auxiliaram oestabelecimento das idéias neoliberalistas.
As ações decorrentes das novas idéias edos acontecimentos mundiais ecoaram nasreformas de Estado em todos os conti-nentes e, conseqüentemente, tiveramreflexos na gestão dos serviços públicos.Uma análise mais detalhada desses movi-mentos pode explicar quais foram asimplicações na gestão do serviço públicono Brasil: o desmonte do bem-estar teveimpactos que foram desde o aumento dotempo para a aposentadoria, compagamento de “pedágio” para aquelespressupostamente com direitos adquiridos,

RSP
187
Rose Marie Caetano
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 181-211 Abr/Jun 2007
“A falta derenovação dosquadros públicosprovocadesmotivação, alémde ser fatorimpeditivo para queuma renovação deidéias surja com oingresso de umpessoal mais bempreparado, trazendoum novo perfil aoserviço público”.
até a prática de preços exorbitantes pelastelefônicas, executados em nome de uma,também pressuposta, melhoria na qualidadede atendimento. A gestão pública teve umforte impacto decorrente das ações econô-mico-financeiras. As várias empresas estataisvendidas, agrupadas, destituídas ou extintasdavam um recado nada alentador para osservidores que pretendiam seguir carreira,pois nada mais poderia garantir suaestabilidade. Provavelmente esse o motivoda acomodação muda e inativa dos quepermaneceram e a ação pró-ativa de desli-gamento dos mais capacitados, culminandonuma situação de continua incerteza.
A origem de tudo pode ter partidodos aconselhamentos do Consenso deWashington, sendo assim, o Brasilcumpriu as orientações apresentadas ereduziu o Estado (venda das estatais),estabilizou a moeda (Plano Real), interna-cionalizou a economia (abriu o comérciopara importações e exportações), fez aliberalização financeira e a desregu-lamentação das atividades. Já no atualgoverno, a continuidade desse protocoloacontece com a eliminação do déficitpúblico mediante profundo ajuste fiscale a seletividade no financiamento daspolíticas públicas, numa continuidade dogoverno anterior no que se refere aoconsenso de Washington.
A redução do Estado ou o EstadoMínimo trouxe um paradoxo diante doantigo Estado de Bem-Estar. É difícil paraos gestores entenderem qual a postura quedeles é esperada, mesmo porque existemdenúncias, principalmente pela mídia, de rentseeking2. “Para isso, contam com o apoio departe da burocracia, consolidando o padrãode articulação público-privado e Estado-sociedade no Brasil. Sua tradução literalequivale a ‘busca por renda’. Alguns autores,como Bresser Pereira, já estão chamando a
tentativa de impedir o rent seeking comopublificação” (SOUSA; ARAUJO, 2003).
É preciso ponderar que tanto aredução do Estado, quanto a abertura paraimportações gerou um desconforto paraempresas de economia privada e para osetor público, que passou a temer pela suadescontinuidade, seja pela venda, seja peloenxugamento de atividades. Gerenciar comessas adversidades está longe de ser ocampo ideal para o desenvolvimento, e o
reflexo de tudo isso atingiu e atinge apopulação que deixou de ter serviçospúblicos de qualidade.
Um novo padrão comportamental éexigido dos dirigentes que devem assumir,inclusive, o papel de articuladores naquestão Estado-sociedade, buscando omelhor atendimento por um lado everificando desmontes públicos do outro.Um paradoxo de difícil compreensão.

RSP
188
Legitimidade da liderança no Ministério da Saúde – um ensaio
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 181-211 Abr/Jun 2007
A reforma do Estado tinha o propó-sito de ser um propulsor de mudanças,incluindo aqui a capacitação para esses“novos gestores”, mas nem todos oscuidados foram tomados. Variáveisorganizacionais, como a cultura, o desem-penho, a liderança, a tarefa, a motivação, oclima e as estruturas, deveriam ter sidoconsideradas. As chefias deveriam estarpreparadas e entender os acontecimentos,ter noção de onde deveriam chegar (rumose objetivo final), o que muitas vezes nãoestava explícito. Além disso, faltava aosgerentes conhecimento e habilidade para autilização de ferramentas de gestão como,por exemplo, planejamento estratégico, quepudessem demonstrar os rumos e as metasestratégicas estabelecidas ou definidas emconjunto pelas próprias equipes.
Modernizar a administração deveria sera tônica do governo neoliberal. O Estadoreduzido absorveria funções de norma-tização ou regulamentação, de controle emonitoramento e de agente promotor dodesenvolvimento, descentralizando funçõesde execução e assumindo a coordenaçãodas mesmas. A administração deveria serleve e flexível. O dirigente deveria minima-mente saber como fazer planejamentosaderentes à estratégia das suas organizações.Deveria organizar e capacitar seu pessoalpara atender a novas demandas, entender aimportância de abrir mão da execução paraassumir funções “pensantes” de direcio-namento, que seriam traduzidas pelas, então,“normatizações” federais eficientes,objetivas e agregadoras. O Plano Diretordo governo dispõe que é preciso:• aumentar a efetividade do núcleo
estratégico, de forma que os objetivosdemocraticamente acordados sejamadequada e efetivamente alcançados; e• modernizar a administração buro-
crática, por meio de uma política de
profissionalização do serviço público, ouseja, de uma política de carreiras, deconcursos públicos anuais, de programasde educação continuada permanente, deuma efetiva administração salarial, aomesmo tempo em que se introduz nosistema burocrático uma cultura gerencialbaseada na avaliação de desempenho.
Diversas ferramentas para uma gestãoparticipativa e eficiente foram elaboradase, ainda hoje, são estimuladas pelas áreasde gestão e de planejamento do governo.Mas será que o gestor mudou o seu modusoperandi ou o comportamento dos dirigentescontinua seguindo o velho padrão de quea chefia tudo sabe e tudo decide?
Importante também seria esclarecer opapel do dirigente no nível central/federaldo serviço público. Melhor explicando:definir as práticas de descentralização e osnovos produtos, uma vez que não deveriamais executar tarefas. Tudo isso à luz dasexpectativas da clientela/usuário, que tambémdeveria ser bem definida, além, é claro, deter sua participação ativa no processo.
A reforma do Estado presumiatransformações para o serviço público,mas é preciso saber se, e como, as mudançasafetaram os diversos níveis gerenciais.
O maior desafio, talvez, seja entendercomo essas transformações influenciarampositivamente ou negativamente a gestãopública desde a alta gerência (primeirosescalões), bem como isso afetou, e afeta,as alterações na base da pirâmide hierár-quica e por fim como tudo isso interferena legitimidade da liderança gerencial dosserviços públicos brasileiros.
Como foi o reflexo desse contextono Ministério da Saúde?
Todos os fatores, tanto econômicos,sociais e de transformações tecnológicas,que atingiram o serviço público de um

RSP
189
Rose Marie Caetano
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 181-211 Abr/Jun 2007
modo geral, tiveram repercussão acentuadapara as áreas da saúde. O maior orçamentoe o maior Ministério fazem parte de umsistema ainda maior, o Sistema Único deSaúde (SUS). Saber como deve ser ogerenciamento de uma área de tamanhaabrangência e complexidade apresenta-secomo desafio a todos os pensadores daadministração pública.
A administração do sistema federativoiniciado nos anos 1980 propôs a descentra-lização da gestão, mas não existem dadosconcretos sobre os reflexos causados nasgerências e nas chefias, sobretudo nagerência média. Da mesma forma, não háuma proposição sistematizada para que osnovos gestores se adaptem a novoscomportamentos e entendam a novaforma de poder participativo. Tampoucoesse perfil de nova forma de gestão,descentralizada e participativa, foi dese-nhado e apresentado aos servidores doMinistério da Saúde.
Além disso, diversas transformaçõescom absorção de outras estruturas como,por exemplo, dos funcionários do extintoINAMPS,3 aconteceram sem que areadequação dos trabalhadores remanes-centes fosse pensada, ou mesmo, sem quemecanismos de capacitação e acolhimentofossem adotados. Pessoas oriundas deculturas diferentes foram “juntadas”, semque tivesse a amálgama que as fizesse umsó bloco de trabalho. Foram lançadas aossetores com salários diferentes e formaçõesdistintas, sem que lhes perguntassem o quepoderiam ou sabiam fazer.
Traçar o perfil do servidor da saúdepoderia ser um primeiro passo para aorganização da estrutura. Ultimamente,alguns servidores começam a se entendercomo atores nesse gigante chamado SUS,a partir de ações de integração como o(re) Descobrindo o SUS4. Poderia se criar
o “(re)descobrindo o dirigente”. Afinal, eleé ator constante e permanente nesse cenário,ou é preciso ceder à hipótese de que suapassagem tende a ser ligeira como ummandato político e, por isso, não valeria apena se investir em sua capacitação?
Na análise desse contexto, é precisocitar que a definição dos papéis de cadaesfera do governo nunca foi devidamenteesclarecida ou assumida, seja por meio deprogramas claros e políticas bem comparti-lhadas, seja pela redefinição das compe-tências de cada co-participe. Descentrali-zação é transferência de autonomia dopoder de decisão. A expectativa é de maisparticipação e democratização nas decisões.A chefia média deveria estar mais presentee capacitada para receber os novos papéise exigências nas pontas. No nível central,os gestores preparados para as transfe-rências e repasses de processos de formasistematizada e segura.
Muita coisa ainda se executa nesse nível,que, por sua vez, não teve a esperadadiminuição expressiva em seus quadros,decorrente da descentralização. A necessi-dade de técnicos mais capacitados para darconta das novas tecnologias impostas pelomercado e pelo aumento constante dasdemandas tornou-se fundamental para aorganização de um Sistema Único deSaúde que, em si próprio, era dia-a-diacrescente. A figura do consultor contra-tado por programas de saúde e educaçãofirmados com diversos organismos inter-nacionais tornou-se uma constante eabundante alternativa, uma vez que osconcursos públicos prometidos pelogoverno neoliberal se apresentavam comoincompatíveis com uma máquina estatal,que deveria eliminar uma série de atri-buições do nível central para os estados,mas que tem na descentralização apenasum paradigma ideal ainda não realizado.

RSP
190
Legitimidade da liderança no Ministério da Saúde – um ensaio
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 181-211 Abr/Jun 2007
No mais das vezes, os estados emunicípios (seus gestores em constante turnover) não foram devidamente preparadose treinados para receber a tarefa deexecução e efetivação/execução do orça-mento (repassado por meio dos POA ePPA)5. A metodologia de repasse nãocontemplou conhecimento e habilidades deplanejamento e articulação técnica a essesgestores.
Mesmo com as diversas tentativas dedescentralização da execução por meio dorepasse orçamentário, a esfera federal dosistema de saúde ainda sofre pelas defi-ciências com pessoal.
Inúmeras modalidades de contrataçãode pessoal foram criadas para suprir a faltade concursos públicos. Com isso, irracio-nalidades salariais são freqüentes. Estudantesfazem estágio, oferecendo trabalho dequatro horas por dia e não recebem o sufi-ciente sequer para arcar com seu desloca-mento de casa ao trabalho. Incompatívelcom as orientações de um governo que sevolta para o trabalhador, esses estudantessão considerados mão-de-obra barata edescartável. Não raras vezes, chefes ganhamsalários muito menores que os de seussubordinados e a distribuição de cargoscom salários generosos, oriundos decomprometimentos políticos, são ofere-cidos sem que se atendam às necessidadesdo trabalho em si. Além disso, uma parteexpressiva de pessoas contratadas namodalidade “produto” não contribuiefetivamente com a necessidade de mão-de-obra do trabalho técnico, mesmoporque, as próprias regras assimdeterminam.
Não existe avaliação de desempenhoformalizada e com critérios voltados pararesultados ou para a relação custo X bene-fício, que verifique quais são aquelesconsultores que estão realmente contribuindo
para o serviço público. Por outro lado, quesentido teria a implementação de qualquertipo de avaliação de desempenho em umainstituição cujo Plano de Cargos e Salários,se existe, é inexpressivo, pois leva em consi-deração inúmeros fatos que desabonam oque se costuma conceituar como carreira ouplano salarial.
De uma lado, motivada pelo desenvol-vimento tecnológico da informática, deoutro, ações políticas às vezes equivocadasgeraram a atual situação em que convivemlado a lado servidores de carreira (concur-sados) com garantia de emprego, férias,licenças, direito a INSS e aposentadoria,mas insatisfeitos com os baixos salários e,por seu turno, funcionários contratadoscom retorno salarial próximo aos prati-cados no mercado, mas sem a mínimaestabilidade de emprego e sem nenhumdireito trabalhista, que por isso também seencontram insatisfeitos.
A questão é: como gerenciar pessoasque o próprio sistema permite e induz quesejam pagas de forma arbitrária de acordocom casualidades ou ondas políticas esporá-dicas e situacionais? Pesquisas de climaorganizacional indicam insatisfação no quese refere à justiça na forma de remuneração.
A denúncia de tal situação, contudo,traz tanto desconforto como a própriasituação instalada. Será, então, que a melhorforma de estruturar o sistema público, emespecial o de saúde, seria a hierarquia, após,claro o estabelecimento de um grandeconcurso?. Seria o ideal o estabelecimentode uma carreira formal e repleta de regrase inflexibilidades?6.
Assim, o conceito e os parâmetros paraa carreira no sistema de saúde pública nãosão definidos e os diversos tipos decontratos concorrendo entre si, e estes coma carreira do servidor propriamente dita,interferem no planejamento de vida e de

RSP
191
Rose Marie Caetano
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 181-211 Abr/Jun 2007
carreira dos servidores públicos. Nas áreasde saúde, mais acentuadamente, observa-se a quantidade de profissionais que atuamem carreiras paralelas, subjacentes etemporárias. São inúmeros os consultoresoriundos do mercado que, ao ingressarnessa maratona de contratos terceirizadosou com agências internacionais, tambémnão têm definições sobre a continuidadede seus trabalhos.
O importante é saber como valorizaros trabalhadores da saúde diante dosinúmeros anos sem reajuste salarial. Trataros conflitos, humanizando as relações dostrabalhos, também é tarefa complicadafrente aos “desmanches” de instituiçõesgovernamentais.
Uma coisa é certa, as mudanças nãoacontecem e não podem acontecer pordecretos. Uma reflexão mais apuradamostra que se trata de uma mudançacultural e mudanças desse tipo necessitamde um tempo considerável para processaras alterações que dependem, dentre outrascoisas, de transferência de competência –empowerment.
Como comentado anteriormente, dá-se, por transferência de decisões e decondições. As condições não se dão porrepasses financeiros, mas pela capacidadede governar, promovendo desde oplanejamento estratégico regionalizado atéas articulações e negociações necessáriaspara o comprometimento dos diversosatores envolvidos, buscando inclusiveparcerias para viabilização das ações deincremento.
No nível central, diante das diretrizesde descentralização, os trabalhadoresdevem passar pelo desapego dasexecuções operacionais, buscando atuarcomo coordenação, normatização eorientação. Formas de trabalho diferentesda que estavam habituados.
Em que pese os estudos que indicamter havido melhora no nível de escolari-dade em termos acadêmicos, indicandoque muitos servidores na década de 90concluíram curso superior; provavelmenteesses dados não são determinantes ouindicativos para se afirmar que, em ummesmo ritmo, houve progresso na formade gerenciamento ou nos processosadministrativos na área de saúde ou emqualquer outro serviço público.
É de se supor que em áreas como asaúde e a educação, o quantitativo deservidores com estudo em nível superior(professores, médicos, enfermeiros, entreoutros) tenha uma expressividade, mas aquestão é saber se servidores de áreasadministrativas, também tiveram tãoexpressivo aumento de capacitação. Afinal,áreas administrativas muitas vezes definemações estratégicas.
“O líder, em vezde um bom orador,deve ser um bomouvinte, capaz deentender osanseios do grupo econcretizá-los.”

RSP
192
Legitimidade da liderança no Ministério da Saúde – um ensaio
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 181-211 Abr/Jun 2007
Recursos humanos – algunsparadigmas
Pensar e entender o significado degestão, seu desenvolvimento, ou melhor,suas inúmeras transformações no tempoe nos espaços relacionais das diversasculturas e situações, requer um ingredienteessencial: entender como acontecem asrelações de poder.
Os conceitos que definem gestão, porquestão temporal ou situacional, tiveramnuances e foram apresentados segundoanálises baseadas em diferentes princípiosestruturais e organizacionais. Provavel-mente, o fenômeno básico que caracterizaessas organizações e, conseqüentemente,orienta os princípios de gestão, acontecepelo estabelecimento das relações de poderou dominação dentro de uma perspectivamaior, que abrange inclusive a culturaorganizacional.
Relações de poderAs definições das relações de poder
estabelecem paralelos para as definições deliderança e, nesse sentido, é possívelmencionar várias características e descriçõesde variedades de estilos, como, porexemplo, os três tipos puros de dominaçãolegítimos, abordados por Weber. Prova-velmente, ele não foi o primeiro a escreverou descrever, sistematicamente, as relaçõesde poder, mas, com certeza, muitosautores e estudiosos nelas se basearam paracriar teorias na arte da dominação7.
Não seria prudente partir do pressu-posto de que a gestão existe como meradecorrência de um aprendizado em quealgumas provas ou um certificado possamgarantir que o sujeito está habilitado e certi-ficado como gestor. Não é o mesmo quepreparar o indivíduo para exercer funçõestécnicas. As variáveis que atuam sobre o
exercício da gestão são consideravelmentemais complexas que aquelas exigidas emfunções operacionais. Para o dirigente, otrabalho não implica apenas variáveis rela-tivas ao conhecimento e complexidade detarefas, mas sim, uma quantidade devariáveis díspares entre si. A gestãopressupõe a orientação de subordinados,sendo cada um deles um mundo complexoque deve ser considerado e entendido emsuas necessidades individuais e coletivas.
Por outro lado, o gestor deve atenderaos interesses da organização, que muitasvezes não coincidem com os interesses dostrabalhadores. Além disso, o gestor temseus próprios interesses, alguns delesvoltados para a manutenção ou conquistade mais poder.
O dirigente inicia suas atividades,normalmente, dentro de uma caldeira derelacionamentos pré-existentes, em que,muitas vezes, relações de poder do inter eextra grupo já estão estabelecidas. Suaatuação deverá dar conta de manter eorientar essa rede de poder de formaharmônica e produtiva a todos.
Motta (1999) resume bem a interfe-rência que existe entre as relações de podere a ação das lideranças. Ele foca o estabe-lecimento da racionalidade para o exercícioda função do líder, em qualquer que seja olocal ou a situação. Para ele, o poderacumula-se em mesma proporção que onível hierárquico.
Em outras palavras, a racionalidade noexercício do poder, além de relativa, éextremamente influenciada pelo contextoem que está inserida, bem como por inte-resses próprios e particulares no sentidoda manutenção do poder adquirido ouascensão a ele. Afinal, para o autor, o podertraz consigo perdas e danos. Assim sendo,na análise situacional da liderança, é precisosalientar que toda organização é uma arena

RSP
193
Rose Marie Caetano
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 181-211 Abr/Jun 2007
política em que interesses diversos estarãoem jogo. Desejos individuais podem sercompartilhados, ou não, com as aspiraçõesdo grupo ou da organização. Nessa linhade pensamento, é possível entender que olíder é aquele que consegue expressar aogrupo a identidade de desejos e aspirações,mesmo que não seja tão verdadeiro quantopareça.
Motta (1999) explica também ainfluência que esses conflitos de interesses,externos e internos aos interesses dopróprio gestor, têm na forma de direçãoou coordenação das pessoas, uma vez queo gestor também faz o controle dosrecursos, sendo de sua responsabilidade osdiversos processos decisórios. Nessesprocessos, o responsável pela gestão irátratar conflitos, pressões externas e colisõesde poder interno e externo.
Do poder à liderança existe um bompasso, mas o caminho e a trilha quenorteiam os estudos desses temas são osmesmos. Como a palavra poder, com otempo, sofreu desgastes por carregarconsigo o peso de definições correlatascomo autoritarismo, pressão e sub-juga-mento, a palavra liderança vem substituir otermo anterior com graça, leveza eaceitabilidade. O poder parece ser semprealgo imposto, enquanto o líder é o esco-lhido e aceito por todos. Da mesma forma,a palavra chefia, muitas vezes não seapresenta como termo adequado ou ideal,exatamente por ter em si essa idéia deimposição.
Chefia e liderançaDiscussões sobre chefia e liderança
estão presentes na maioria dos cursos paradirigentes ou gestores além de fazeremparte de uma enorme gama de textossobre o assunto. O mais interessante é queindependentemente de conhecimento ou
de cursos, os subordinados sabemdistinguir muito bem quando tem à frenteum líder ou apenas um chefe.
Para Motta (1999), “liderança tornou-se uma palavra corrente na linguagemadministrativa moderna. Muitos a desejam,principalmente os dirigentes que a vêemcomo instrumento poderoso parainfluenciar pessoas e conservar o poder”8.
Matus (2000) afirma que “o líder é umhomem incomum. É dominado porambições e dotado de capacidades que odiferenciam da média dos seres humanosanônimos”. Para o autor, o líder é aqueleque tem capacidade para comover, inspirar,mobilizar em uma sintonia com a massa.É algo que fica entre o emocional e oracional, mas que tem como resultado oêxito para ambos.
É importante destacar que em muitasabordagens sobre liderança, o líderaparece como o ser que é capaz dearrastar uma multidão conforme seupróprio propósito, visto que é capaz depersuadir a todos com seus argumentossempre convincentes. O seu desejo écolocado como item principal e pontode partida de tudo que virá acontecer. Emcontrapartida, numa revisão dessesconceitos, o líder é tido como aquele queconsegue entender a vontade e o desejoda maioria e traduzi-la numa linguagemaceitável por todos, para, a partir daí,conduzir o grupo à concretização dessesdesejos, independentemente de suaprópria vontade e interesse.
O líder, em vez de um bom orador(convencedor), deve ser um bom ouvinte,capaz de entender os anseios do grupo econcretizá-los.
Novos entendimentos de liderança,então, são evidenciados: o líder nãomanda, não impõe, ele é simplesmenteobedecido pela equipe por sua força de

RSP
194
Legitimidade da liderança no Ministério da Saúde – um ensaio
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 181-211 Abr/Jun 2007
argumentação ou talvez pelo carismainexplicável de gestos e atitudes, e comisso, ele tem e mantém o “poder” maisefetivo, duradouro e abrangente, não tãofreqüente em chefes nomeados, mas nãoindicados pelo grupo. Essas afirmativasnão são expressão absoluta da verdade,posto que o líder sempre surgiria espon-taneamente (líder nato), e nada poderiaser feito para a sua formação. Observa-se, contudo, que nem o líder surge comoum ser predestinado, e nem os chefes sãoautomaticamente líderes. Na realidade,verifica-se que nenhuma das assertivas éabsoluta. O que acontece é que algunschefes, que recebem o cargo por atri-buição, com o tempo, aprendem ocomportamento de líder e atuam deforma a se aproximar da liderança de fato.
Motta (1999) traz a tona o processo queidentifica objetivos comuns entre o líder eo grupo, além de mencionar a necessidadede habilidades para solucionar conflitos econduzir o grupo à harmonização.
A partir disso, é possível concluir quea liderança vai além do campo das idéias.A coordenação e distribuição das tarefas ea solução harmônica ou, pelo menos aceitapelo grupo, de conflitos, sobretudointernos ao grupo, são alguns dos pontospreponderantes para a legitimidade daliderança. Por extensão, essas são funçõesdos cargos de chefias. Se os chefes nãoabraçarem essas tarefas como de suaresponsabilidade, com certeza será umfator para a não legitimidade no cargo noque se refere a sua aceitação como líder.Em alguns casos, os chefes provavelmentesuprem essas deficiências pela imposiçãoda hierarquia, como determinante paraobediência (muito diferente da obediênciaao líder, que é espontânea). Essa obediênciairá depender da cultura da organização quepoderá aceitar como legítima a ocupação
pelo cargo e seus subordinados aceitarema liderança pelas regras definidas e aceitapor aqueles que aceitam a própria organi-zação como ela é. O poder, nesse caso, éobtido pela circunstancialidade.
Um paradoxo se apresenta, quandoo chefe busca um cargo de liderança, nãopor princípios básicos e ideológicos quelhe confere poder como conseqüência,mas quando quer o cargo para ter opoder e, com ele, benesses comoprestígio, recursos financeiros, confortoe facilidades.
Existem, pois, características compor-tamentais que distinguem o chefe do lídere a observação e mudança de compor-tamento poderiam auxiliar os chefes nessajornada, mesmo porque talvez não existamtantos líderes natos no mundo quanto osnecessários para direção de instituições.Daí, a pesquisa desses comportamentos eos estudos para a transformação de chefesem líderes. Hoje, o mercado tem lugarpara mais uma profissão, a de “head hunter”(caçadores de talento). São profissionais quese especializaram na busca e na identifi-cação de chefes-líderes. Muitos desseslíderes são encontrados pelo seu conheci-mento, habilidades e atitudes que, em algummomento, se destacaram dos demais porobterem os propósitos das empresas oupor “virarem a mesa”, isso é, fazerem comque empresas que estavam em decadência,se recuperassem.
A seleção é detalhada, específica erigorosa. Os head hunters, por sua vez, nãotêm regras especificadas para explicar suasdescobertas, muitas delas já evidentes,tornam-se apenas “dança de cadeiras”. Nãosabem qual a dosagem de características deliderança (ouvir a equipe) ou de chefia(assumir decisão individual) é necessária paracada cargo a ser ocupado, talvez um mistode atitudes complementares.

RSP
195
Rose Marie Caetano
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 181-211 Abr/Jun 2007
O líder e a equipeUma dúvida: o grupo, sua confor-
mação ou necessidades define a escolha dolíder? Qual seria então a influência ou aautoridade do grupo sobre a definição dolíder? Essa linha de pensamento definiu aabordagem de que o líder é situacional.Melhor explicando, indivíduos seriamlíderes conforme a exigência da situação.Em um edifício em chamas, por exemplo,um bombeiro seria líder, se, pelo seuconhecimento tomasse a iniciativa deliderar o grupo. O que o levou a ter inicia-tiva foi a certeza do melhor a fazer, o quelhe conferiu poder sobre o grupo.
Na ótica da Análise Transacional, EdelaLanzer Pereira de Souza (1978) considerao modelo estrutural básico do ser humanopelos estados do ego denominados de pai,adulto e criança, e esse reflexo na autori-dade (ou poder) do grupo. Esses trêsestados geram três aspectos de estruturagrupal que devem considerar as pressõesinternas e externas e são caracterizados pelolíder responsável (pai), afetivo (criança) epsicológico (adulto). O ideal é que os trêscomportamentos estejam na mesmapessoa que assume a postura de um ou deoutro, conforme a necessidade9.
Já para Laurent Lapierre (1995), adefinição de liderança está focada nosliderados e é quase ocasional. Assume aconotação histórico-cultural que reflete nareação dos liderados para explicar o êxitoda liderança. Para o autor, além deatributos como conhecimentos técnicos, dapolítica e habilidades de direção (informar-se, comunicar, persuadir, cativar, seduzir,manipular, exigir, etc.), existem algumasrazões que dão aderência ao líder, queseriam formadas pelo contexto sócio-histórico-cultural, e que o líder seria aqueleque traria novos horizontes de inovação emudança que estaria no ideário dos
liderados. Seria a união da visão do líder eos desejos dos liderados.
Assim, cada tempo tem seu líder tantoquanto cada equipe necessita de um estilode liderança e, por isso é fácil entenderque o líder e a equipe estão intrinsecamenteligados. Da mesma forma, é possível es-tabelecer que o desenvolvimento daschefias está diretamente ligado ao cresci-mento da equipe. A formação de ambas,por sua vez, é determinante para odesenvolvimento e modernização daprópria instituição.
As boas interação e integração quedevem existir entre o gestor e sua equipesão, portanto, fundamentais para que odesenvolvimento institucional logre êxito.O estabelecimento de uma ação contínuade crescimento cria uma espécie de motocontínuo, um espaço de educação perma-nente em que todos que recebem capaci-tação, por conta da integração da equipe,repassem os conhecimentos, habilidades eatitudes aos demais, proporcionandomelhorias constantes para a modernizaçãoe desenvolvimento da equipe e, conseqüen-temente, da instituição.
O gestor que se preocupa em dar àsua equipe possibilidades de crescimentopor meio de treinamentos é visto pelaequipe com bons olhos e isso é um fatorde consideração para cativar a equipe, maispróximo, portanto da liderança do que dachefia. O líder não teme que o subordi-nado aprenda, ele incentiva e se dedica aproporcionar o crescimento da equipe eorgulha-se disso.
A situação encontrada no serviçopúblico, com vários tipos de vinculaçãotrabalhista provoca um ambiente hostil ede difícil harmonização por parte dosgestores. Os que ganham relativamentebem estão descontentes com a instabili-dade; os que têm estabilidade estão

RSP
196
Legitimidade da liderança no Ministério da Saúde – um ensaio
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 181-211 Abr/Jun 2007
insatisfeitos com os salários sem ajustes.Além disso, em algumas áreas as chefiasvêem de fora do ambiente e cultura local,ditando normas e agindo de formacontrária à cultura do funcionalismo, semdar atenção à situação instalada.
Desde 1990, com a Lei 8.080, em queos incisos que tratavam de piso salarial eda institucionalização nas três esferas degoverno de critérios para salários foramvetados pelo então presidente, as tentativasde ajustes em cargos e salários nãolograram êxito.
Em 2005, foi elaborada uma PropostaPreliminar para Discussão das DiretrizesNacionais para a Instituição de Planos deCarreiras, Cargos e Salários o âmbito doSistema Único de Saúde (PCCS-SUS), como objetivo de oferecer ao trabalhadoroportunidades de desenvolvimento profis-sional e dotar o SUS de um instrumento degestão de pessoal, instituindo uma políticade ingresso, evolução, desenvolvimento eavaliação de desempenho.
O resultado desse trabalho apresentauma série de acertivas que contemplam asaspirações do funcionalismo público dasaúde. Os princípios que nortearam essasdiretrizes foram os seguintes:• universalidade: os planos de todos
os órgãos e instituições públicas do SUSdeverão abarcar todos os trabalhadores;• equivalência: os cargos terão
correspondência entre os planos de carreirados entes federados;• concurso público: o acesso à carreira
estará condicionado à aprovação emconcurso público;• mobilidade: assegura o trânsito do
trabalhador do SUS, sem perda de seusdireitos e progressão na carreira;• flexibilidade: garantia permanente da
adequação dos planos às necessidades e àdinâmica do SUS;
• gestão partilhada: estabelece aparticipação dos trabalhadores na formu-lação e gestão do plano da carreira;• carreira como instrumento de gestão;• educação permanente;• avaliação de desempenho: processo
focado em critérios técnicos, a seremdefinidos com o aprofundamento dadiscussão;• compromisso solidário.Ao analisar esses itens e a realidade do
SUS, é possível constatar que ainda há muitoa se fazer para a gestão de pessoas. Lide-rados com propósitos e visões dísparesentre si geram aspirações conflitantes dedifícil condução pelas chefias.
Pesquisa – considerações gerais
Para a realização da pesquisa, optou-se pela utilização de questionário elaboradoe devidamente testado para a análise declima organizacional, com recorte para ofator estilo gerencial e adaptado para osetor público de saúde. O questionário foiaplicado entre os servidores e colabo-radores (consultores e terceirizados) doMinistério da Saúde, em Brasília, nasfunções de chefes e subordinados. O fatorestilo de gerência foi isolado, neste caso,para atender o foco do trabalho.
Não houve teste amostral para oMinistério da Saúde por se tratar de umasondagem. Foram selecionadas como áreasde amostragens, por questões de facilidadede aplicação e proximidade e a tipicidadedos profissionais, definidos na tabela a seguir.
O questionário da pesquisa apresen-tava 15 questões fechadas que tratavam docomportamento do gestor para com suaequipe. As possíveis respostas variavam emuma escala de um a cinco e deveriam serapontadas conforme as seguintes expli-cações apresentadas na folha de rosto10.

RSP
197
Rose Marie Caetano
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 181-211 Abr/Jun 2007
Além dessas questões, foi feita umapesquisa quanto à percepção dos subordi-nados e da chefia relativamente à seleção/indicação deste para o cargo de chefia.Além disso, os dirigentes receberamquestionários com itens que investigavamidade, escolaridade, tempo de serviço,vínculo e uma pergunta sobre como ocorreua sua ascensão ao cargo, com o propósitode comparar as respostas das chefias comas respostas dos subordinados (esta últimapergunta também estava presente noquestionário dos subordinados).
Em diversas áreas, a população (totalde trabalhadores no setor) era de oito ounove pessoas, o que permitiu umasondagem no sentido de verificar quais asquestões mais significativas para os subor-dinados em relação a alguns aspectos docomportamento dos dirigentes: uma idéiade como os dirigentes são vistos em suaárea e a comparação com as demais áreasinvestigadas do Ministério da Saúde.
As questões escolhidas tratam deaspectos que compõem/interferem noclima organizacional daquele ambiente,naquele momento, no que se refere a “estilode gerência”, evitando julgamentos decerto ou errado. Trata-se da percepção dossubordinados de valores e atitudes dachefia como: clareza na comunicação,distribuição das tarefas, participação da
equipe nos processos decisórios, justiça noreconhecimento dos trabalhos individuais(protecionismo), coerência e transparêncianas ações do dia-a-dia junto à equipe.
Os resultados da pesquisa possibili-tarão uma análise descritiva e reflexiva dasrespostas de servidores, trabalhadoresterceirizados e consultores de quatro áreasdo Ministério da Saúde. É importanteregistrar que a percepção e o sentimentodos participantes da pesquisa mudam.Percepções estão sempre sujeitas a inter-venções externas, portanto são expressõesde relatividade. A percepção (sentimento)de um momento é muito efêmera e, àsvezes, contraditória no momento seguinte,por isso não existe uma exatidão mate-mática na mensuração.
Os resultados estatísticos representama fotografia de um momento e não umasituação concreta e constante, pois muitosoutros fatores interferem nas repostas.Fatores estes que podem apresentar viéscausado pelo momento situacional polí-tico-econômico-social, por insegurançasdecorrentes de contratos de trabalhoinstáveis ou por possibilidade da mudançada chefia pela mudança ministerial.
A análise dos questionários será feitaquestão por questão. Como foi o compor-tamento das respostas, como foi distri-buída na escala, após o que serão verificadas
Área Características das áreas pesquisadas
A Funcionários contratados, consultores e terceirizados; e poucos servidoresde carreira (< 10%).
B Servidores do Ministério com carreira própria (> 90%).
C Servidores de carreira (> 90%) e alguns trabalhadores terceirizados e com DAS.
D Percentual equilibrado de servidores, e trabalhadores com DAS, terceirizados econsultores

RSP
198
Legitimidade da liderança no Ministério da Saúde – um ensaio
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 181-211 Abr/Jun 2007
as médias e modas11. Isso será feito paracada gestor (grupo de respostas de umaárea) para identificar expressividades indi-viduais do estilo de gerência e depois porárea, nos casos de serem vários gestorespara uma mesma área. Por isso, o métodode análise será de análise descritiva, que épropício ao exercício de reflexão compa-rando, inclusive, o momento vivenciado.Não serão, por isso, verdades absolutas.O produto deste trabalho deverá serconsiderado um ponto de partida parafuturos estudos e reflexões por parte dos“gestores de gestores” e dirigentes da áreade recursos humanos e valerá como ensaioe provocação para novas oportunidadesde estudos.
Sobre o estilo de gestãoEm uma primeira aplicação dos
questionários, as sub-áreas da área A foramverificadas entre si, para melhor entendercomo os subordinados vêem suas chefiasdiretas, e logo a seguir foi feita umacomparação entre as sub-áreas para veri-ficar se o resultado final das áreas estariampróximos entre si, influenciado, nesse caso,pelo ambiente da área, ou se seriam muitodiferentes, evidenciando que a percepção doestilo de gerência está na pessoa do chefe.
O resultado obtido pela análise dosdiversos setores da mesma área foi relati-vamente diferente entre si e não expressao resultado geral para toda a área A. Issopode significar, como explicado acima, queas relações com as chefias imediatas é quesão determinantes e expressivas para oresultado desta pesquisa. A percepção deum chefe ou líder distante pode não serclara e a média das percepções dos chefesdiretos nada tem a ver com as percepçõesdesses chefes em relação à chefia geral. Éo dia-a-dia da proximidade e contato quetraz a percepção das relações do trabalho
e do estilo de gerência. Não há nenhumaconstância nos resultados que possaexplicar um estilo de gestão generalizadopara o setor público na saúde. A pessoa-lidade se mostra mais evidente do quecaracterísticas amplas ou genéricas dagestão. Para esse tipo de análise seriapreciso entrevistar pessoas que tenham sidogerenciadas por dirigentes do setor públicoe do setor privado, para entender sehaveriam diferenças substanciais ou parti-cularidades na comparação. Ainda assim,é difícil porque, como mencionado, essetipo de pesquisa proporciona a percepçãono momento.
Nos resultados dos setores da áreaA é possível verificar que os itens em quese questionava sobre onde se dá maisênfase diante dos problemas: na soluçãodestes sem buscar quem é o responsávelou na punição de culpados. O itemsolução de problemas teve maiorpontuação, por outro lado, a equipesentiu-se desconsiderada quando analisadaa questão que fala sobre a tomada dedecisões da chefia.
Para esse grupo, um item que tevepontuação expressiva foi: “No meu localde trabalho há pessoas protegidas pelochefe e outras ignoradas”.
De maneira geral, os itens tiverammoda entre três e quatro (escala até cinco).Observando-se, entretanto, algumasquestões individualmente, percebe-se quealguns itens não tiveram registros centra-lizados (em 3 e 4), mas tiveram registros1 e 5, indicando que as percepções estãoopostas. Isso pode ser indicativo deconflitos.
É importante registrar que algumasquestões com médias abaixo de 3 deveriamser particularmente revistas e consideradaspelos chefes, porque podem significarpontos críticos no gerenciamento. Contudo,

RSP
199
Rose Marie Caetano
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 181-211 Abr/Jun 2007
não foram todas as chefias que procuraramsaber se o resultado da pesquisa poderiaajudar sua gestão.
Na área A, foi solicitado aos chefesde setores que respondessem os questio-nários em relação às suas chefias (diretoria).É interessante a comparação dessas médiascom as dos subordinados desses chefes,ou seja, dois níveis distintos na hierarquiagerencial no local.
No geral, os resultados dos questio-nários respondidos pelas chefias em relaçãoaos seus chefes, os diretores e secretários(lembrando que eles também responderamos questionários) exprimem mais satis-fação. A média de maior valor atinge 4,67,enquanto que para os subordinados chegaa 3,93. Por outro lado, as insatisfaçõestambém são mais expressivas, enquantopara as chefias, o ponto médio mínimode todo questionário fica em 3,17; para ossubordinados esse índice é de 2,92. Osresultados são esperados e assim obser-vados na maioria das organizações. É fácilde entender a partir do princípio que osdirigentes intermediários (média chefia) sãona maioria das vezes indicados por seuschefes. O fato de todos os chefes inter-mediários terem agendas de despacho coma diretoria, além de reunião semanal de atéquatro horas, pode ter sido fator de forteinfluência nas respostas, pois nesse local,os contatos das chefias com suas equipesnão são tão assíduos e contínuos quantopara o grupo das chefias que têmconstantes “despachos” com seus supe-riores. As questões nas quais foramverificadas, respectivamente, maior emenor avaliação, contudo, são coincidentes.
Na área B, a questão que trata dacomunicação da chefia em relação aossubordinados teve grande concentração deregistros centrais. Os demais itens tenderamao grau 4 e 5, o que elevou a média para
3,43. Isso não representa média nasatisfação porque existem médias bempróximas a essas, como 3,46 e 3,42, quetêm a distribuição de registros espalhadaentre os cinco itens da escala, significandoque existem percepções diferentes dianteda mesma situação. Assim, no primeirocaso, todos estão se sentindo razoavel-mente satisfeitos. No entanto, em outrasabordagens que comentam sobre o reco-nhecimento do dirigente da competênciado trabalhador, ou sobre a disposição dachefia em receber críticas, as opiniões sãobem divergentes entre si.
Para as áreas C e D houve umatendência favorável das percepções emrelação à chefia, sendo que não houvenenhuma média de avaliação abaixo damédia 3, com distribuição nos itens acimade três. Alguns casos isolados de insatis-fação completa, isso é, trabalhadores queindistintamente registraram escala 1 paratodo o questionário, ocorreu na área D,caso que deve ser atentado porque significaum trabalhador completamente insatisfeito.A identificação de pessoas descontentespela abertura de diálogo deve ser realizada,para que se trate o problema, inclusive coma possibilidade de realocação do funcio-nário, de comum acordo, se sua insatisfaçãoestá ligada à área ou à chefia. Pois isso,contenta a todos e implica em melhoriado ambiente (clima) de trabalho. Pode sertambém que seja um caso de depressãodo funcionário, desajuste por desqualifi-cação ou por se tratar de funcionárioover qualify na função que se encontra total-mente desmotivado, repassando suainsatisfação para sua percepção em relaçãoà chefia. Casos assim devem ser cuidadospara se evitar “contaminação” no climaorganizacional.
O ambiente de clima organizacionalacaba tendo uma influência muito grande

RSP
200
Legitimidade da liderança no Ministério da Saúde – um ensaio
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 181-211 Abr/Jun 2007
do gestor. Na análise das pesquisas nosdiversos setores da área A, percebe-se oquanto é diversificada a impressão que ostrabalhadores têm de suas chefias.
Levando-se em conta que a maiorparte da composição de fatores queinfluenciam a satisfação do cliente interno(funcionários) e, conseqüentemente aformação do clima organizacional, estádiretamente ligada ao comportamento dachefia imediata (cerca de 60% a 80%).É possível deduzir que a chefia média(dirigentes que estão constantemente emcontato com a grande massa de traba-lhadores) é que define a situação (favorávelou não) do ambiente de trabalho.
As pesquisas voltadas para a opinião ea percepção de pessoas devem ser tratadascom muito cuidado. É consenso que nãoé possível concluir que um funcionário,extremamente insatisfeito, e outro, extre-mamente satisfeito, geram um ambiente detrabalho razoavelmente satisfatório. Pelocontrário, nesses casos, o ambiente detrabalho pode acabar sendo hostil a ambos,além de prejudicial para os demais cola-boradores.
Esse é o motivo pelo qual pesquisasdesse tipo devem ser de conhecimento,principalmente e até exclusivamente, dosdirigentes. Somente eles poderão, diantedos resultados, tomar atitudes paramudança de seu comportamento emrelação à sua equipe e, conseqüentemente,provocar a melhoria do clima organiza-cional da instituição. De preferência, essaspesquisas devem ser requisitadas pelosgestores. Para isso, é preciso haver umaconscientização dos mesmos no sentido doentendimento de quanto suas atitudes sãoimportantes aos seus subordinados. Elesdevem saber o quanto este fator podeinfluenciar o ambiente de trabalho dogrupo e os resultados do trabalho.
Se humanização tem sido um tema emdestaque no Ministério da Saúde, a com-preensão dessa palavra no que se refere aotratamento dos chefes para com seussubordinados deveria ser enaltecida. Assim,em uma onda positiva, cada um deles,sobretudo no nível federal (e central) doMinistério, deveria ter atitudes humanaspara compreender e atender a sua própriaequipe.
Indicação ao cargo de dirigente –cruzamento de percepções
A análise dos dados das característicasdas chefias pesquisadas mostrou bastanteheterogeneidade. O tempo de trabalho noMinistério da Saúde variou de três a 15 anose na função de um a três anos. Não houveexpressiva predominância de gênero napesquisa realizada. As idades variaram entre30 a 55 anos. Todos têm curso superior,embora não focado para a atividade ouárea de chefia que atuam. Por exemplo,profissionais de jornalismo ou da área desaúde atuando em recursos humanos eauditoria. A maioria teve atuação em órgãopúblico anteriormente ao cargo que ocupano momento. Todos afirmaram ter feitocursos de aperfeiçoamento na área derecursos humanos. Alguns especificaram oscursos (licitação, consultoria ou, ainda,planejamento participativo), nenhum dosquais com foco em gestão de pessoas.
Todos tiveram uma conversa informalantes da aplicação da pesquisa. Alguns semostraram surpresos com esse tipo depesquisa e queriam saber quais seriam asconseqüências. Muitos contaram suashistórias e como aconteceu sua ascensãoao cargo; alguns ficaram com o questio-nário e não o devolveram ao pesquisador(2), por isso não foi possível a comparaçãodireta da resposta da última questão comas respostas da equipe.

RSP
201
Rose Marie Caetano
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 181-211 Abr/Jun 2007
Na entrevista informal, apenas umdirigente afirmou categoricamente que elehavia sido indicado pelo diretor, que todossabiam disso, e que caso seus subordinadosrespondessem algo diferente, seria de seestranhar. É interessante registrar queembora a maioria dos seus funcionáriostenha respondido que ele havia sido indi-cado pelo diretor (25 registros), cincoresponderam que se tratava de reconheci-mento pela competência e um que eraquestão de promoção na carreira.
Este último caso requer uma reflexãosobre a percepção dos subordinados. Emuma abordagem mais próxima de algunsdeles, houve comentários escritos como:“Todos sabemos que ele foi indicado ‘láde cima’, mas o importante é que ele temcompetência, apesar de ser muitoexigente”, ou ainda, “Está aqui há poucotempo, mas achamos que conseguirá fazeralguma coisa pela gente”. Ao assim seexpressarem, os subordinados estavam, decerta forma, legitimando a liderança.
A atitude da maioria das chefias foidiferente. Apesar de admitirem que haviamsido indicados e fazerem esse registro noquestionário, na conversa informal, logoafirmavam que tinha sido uma escolha porreconhecimento de sua competência echegavam a reproduzir frases do dia emque foram convidados a assumir o posto.Todos, de fato, foram indicados e a maioriados subordinados sabia disso, contudo,algumas das respostas dos subordinadosvinham acompanhadas de explicações dopor que da indicação, e, nesses casos, erapara justificar (legitimar) a liderança.
Muitos subordinados não responderama questão de múltipla escolha sobre a indi-cação ao cargo, o que poderia ser interpre-tado como “não sei”, uma vez que não tinhaessa alternativa para escolha. Houve conside-rável apontamento para “indicação política”
e a maior distribuição da percepção acon-teceu na área B. Esse fato pode ter ocorridoporque os respondentes visualizarampessoas diferentes ao responder a questão,pois havia chefias intermediárias e osquestionários não foram separados porsub-chefias. Isso pode ter causado viés nasrespostas, pois na folha de rosto da pesquisaconstava a seguinte instrução: “Nas questõesque se referem a chefe ou chefia, imagine oseu chefe imediato”. Os chefes imediatos,contudo, não foram identificados eseparados os questionários para análise porsetor, como aconteceu na área A.
Na área D existem três subsetores(coordenações de área) entre a coorde-nação geral e os subordinados, mas foisolicitado verbalmente a todos que imagi-nassem a chefia geral ao responder aquestão. Aqui, o desvio de percepção foibem menor, assim como as repostas emrelação à chefia.
Como existem estruturas formais einformais, seria preciso que a aplicação dapesquisa tivesse um apontamento por partedo respondente a quem ele estava se refe-rindo ao responder, mas buscou-se evitaridentificações. Em pesquisas futuras seriapreciso contornar a situação, pois existemsubordinados que estão bastante afastadosda chefia formal e ligados à chefia informaldevido à natureza do trabalho.
Observa-se que, as situações estruturaisdevem ser consideradas quando daaplicação de uma pesquisa. A percepçãoque os trabalhadores têm da chefia vemdo contato direto e do contato indireto(opinião dos intermediários que vai sealastrando pela instituição), mesmo porque,muitos líderes não têm seus lideradospróximo a eles, mas suas idéias e atitudessão divulgadas por “discípulos”.
Esta pesquisa, que procura entender apercepção dos subordinados em relação

RSP
202
Legitimidade da liderança no Ministério da Saúde – um ensaio
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 181-211 Abr/Jun 2007
ao estilo de gestão, tem como cliente osgestores. Espera-se que eles demonstreminteresse no resultado com intuito deaprimorar sua gestão. Alguns chefes,quando perguntados, demonstraramcuriosidade, entretanto, nenhum solicitouo retorno dos resultados.
O feedback, que tem como significadoo retorno ao indivíduo observado dasimpressões identificadas por uma pessoaou grupo, deveria ser uma arma preciosapara os dirigentes em seu gerenciamentode grupo. Os líderes, normalmente,alimentam-se das informações sobre suaperformance, se interessam e procuramentender as aspirações dos seus coman-dados. Parece que esse hábito na culturabrasileira não passa por contínuas pesquisase avaliações de desempenho, sistematizadase formais. As avaliações e informações arespeito das chefias circulam informal-mente por meio de expressões orais dostrabalhadores, o que geralmente é apeli-dado de “rádio-corredor”. As questõessobre como as chefias recebem críticas ecomo é aceita minha opinião deveriam serobjeto de grupo focal para se apurar quaissão as expectativas dos trabalhadores emrelação a oferecer críticas e participar dagestão. Afinal, um dos princípios básicosapregoados para a inovação na gestão éque ela seja participativa.
A pesquisa não demonstrou umatendência única em todas as áreas pesqui-sadas, isso é, não houve uma questão quepara todas as chefias estivesse nos extremossuperiores ou inferiores. Questões que numdeterminado setor tiveram a mínimapontuação média, no setor ao lado (outrachefia) expressavam a pontuação máxima.Enquanto o gráfico de médias da área Btendia a uma moda entre 3 e 3,50, o gráficodas chefias para a área A apresentavamenores variações. A distribuição entre os
registros das questões também teveexpressão acentuada na área B (talvez peloprovável viés anteriormente comentado),enquanto a distribuição na área D foimenos evidente.
De modo geral, não houve nenhumcaso de grave insatisfação por desconsi-deração, falta de comunicação, ou percepçãode injustiças em relação à chefia (exceção aum único caso já citado).
Casos isolados de registros “1” emtodas as questões (explícita demonstraçãode insatisfação frente ao gestor) é um sinalde alerta para o gestor, que, por sua vez,deve procurar o porquê e saná-lo o maisrapidamente possível. Por fim, é possívelverificar que ainda há muito que setrabalhar em nível de gestão voltada aoclima e satisfação dos servidores para seatingir um grau de excelência por partedos dirigentes.
Conclusão
A gestão pública, sobretudo na áreada saúde, vem sofrendo nas últimasdécadas muitas transformações. Fatoshistóricos, como as guerras mundiais, oincontrolável desenvolvimento tecnológicoe o advento da comunicação on-line, quecoloca todos a par de tudo que aconteceno mundo, interferem nas formas decomando e na transparência dos aconteci-mentos que regem a gestão.
As pessoas têm mais liberdade deexpressão e as informações chegam maisrápido. Os avanços científicos são tantosem todas as áreas de conhecimento que épraticamente impossível acompanhar asnovidades. O homem chegou à lua edividiu o átomo, enviou foguete a Plutãono escape do seu sistema planetário e crioua Nanociência, capaz de dividir e alcançaro que sequer é capaz de ver.

RSP
203
Rose Marie Caetano
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 181-211 Abr/Jun 2007
Diante de tantas evoluções, como sedesenvolve o gerenciamento e comose encontra a liderança? Como se podever pelos comentários feitos no início desteestudo, os avanços das ciências que tratamdas relações de trabalho provavelmentenão acontecem no mesmo ritmo e abran-gência que outras ciências.
Trata-se do comportamento dos sereshumanos em grupos, de desejos evontades, de disputas de poder e deorganização dos processos de trabalho, dadistribuição ou contenção de recursos, dacapacidade de observar e entender todosesses parâmetros sem que se utilize umcomputador para lançar todas as “n”equações com “n” incógnitas que definemo comportamento humano. Os líderes nãotêm tempo de equacionamento ouprocessamento de respostas, que namaioria das vezes, devem ser imediatas.
A ciência do gerenciamento deveriaentão dar conta de captar e entender todasessas informações de inúmeras áreas domundo exterior, dos seus comandados eseus superiores e atender aos anseiosmultidiversificados. Parece, todavia, que afórmula mágica da gestão perfeita para secriar um líder ainda faz parte de umaculinária universal que mantém seus segredose temperos muito bem guardados.Enquanto isso, aventureiros escrevem livrosde poções miraculosas para transformar“chefias-sapo” em “líderanças-príncipes”.
A quantidade de material bibliográficosobre gestão e gestão no serviço público évasta. Poucas análises alcançam os dirigentesem sua individualidade, como atores doprocesso de gestão, olhados de perto comuma lupa de criticidade. Da mesma forma,referências sobre administração no serviçopúblico são generalizadas, amplas e super-ficiais no que se refere ao gestor comoindivíduo. Os trabalhos na área de saúde,
por sua vez, são mais voltados aos temastécnicos, específicos da saúde.
Nas abordagens mundiais, o gerencia-mento é visto como um assunto sistemáticoe calculista, e por vezes, aspectos deliderança nem são tangenciados. Algunstextos, porém, não mencionam o termoliderança de forma direta, falam mais dechefias e de formas de organização dagestão. Em outros, as práticas gerenciaisdo serviço público parecem seguir ummanual. Contudo, seria interessante citarquatro valores que são considerados poralguns como fundamentais para o sucessona administração pública: coerência,coragem, clareza, consideração.
Alguns estudiosos explicam que cadagerente deve encontrar o seu estilo, expli-cando que essa questão tem destaqueimportante na literatura gerencial, emboraeles acreditem que se trata de algo própriode cada indivíduo. Em suma, eles estariamfalando de liderança e, mais ainda, fazendosubentender que liderança é nata (própriade cada indivíduo).
Na maioria das vezes, o levantamentobibliográfico mostra que existe umatendência em se ver o tema de forma isolada(chega a ser até redundante: gestão pelagestão). Um sentido vertical de análise, equase sempre impessoal, toma conta dotema e as explicações baseiam-se emprocessos e acontecimentos analisados como distanciamento típico das ciências exatas.
Quando os estudos de gestão seampliam, estes são feitos sob perspectivasda História, Sociologia, Administração eEconomia, levando em conta todas asadversidades impostas pelo tempo eespaço em que são analisadas, mas poucasvezes fazem uma aproximação das pessoasenvolvidas. Não existem estudos sob oponto de vista do gestor e estes não sãoquestionados sobre o que lhes falta, quais

RSP
204
Legitimidade da liderança no Ministério da Saúde – um ensaio
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 181-211 Abr/Jun 2007
as capacitações de que precisam ou comose prepararam para chegar aondechegaram. Deles se espera execução,planejamento e coordenação de equipe.Muitos se limitam somente à execução. Sãomeros “conferidores” do trabalho daequipe, como nos primórdios da adminis-tração, nada mais.
Ademais, alternâncias de governo e areforma do Estado, por exemplo, devemser levadas em conta como intervenientespara a o entendimento do status quo emque se encontra o gerenciamento no Brasil.A gestão do trabalho no contexto dareforma do Estado provocou reajustes e,com certeza, muitos desses reajustesinfluenciaram nas relações de trabalho entredirigentes e servidores públicos. Osservidores começam a ampliar seusconhecimentos e esperam mais do que um“conferencista-assinador-de-papel” de suachefia. A participação é elemento novo quevem modificar a forma de comunicaçãoe a exigência dos processos de trabalho.As rotinas, a repetição mecânica, a execuçãoinconsciente são ligadas aos computadores.Hoje, os chefes passaram de conferencistaspara coordenadores de idéias. A novaadministração requer que cada trabalhadorseja responsável pelo seu processo detrabalho (erros e acertos). Ao gestor, cabeorientar e capacitar sua equipe, prezar pornovas formas criativas de trabalhocompetitivas com o mercado e com aexigência de sua clientela. Deve estar demãos dadas com sua equipe, sem perder avisão sistêmica da instituição e dos avançosdo mercado.
Existem ainda muitos fatos quepoderiam ser significativos para um estudoda gestão-liderança e do desenvolvimentoe necessidades dos gestores no serviçopúblico de saúde, como a mudança dacapital para Brasília (miscigenação de
culturas); a interferência do desenvol-vimento exponencial de novas tecnologiasem saúde; as mudanças e coalizões nosgovernos, etc.
O importante, porém, é que nessesestudos uma lupa especial estejadirecionada aos gestores para se entendercomo as relações de poder se ajustam aessas interferências externas e como atuamnos jogos que definem indicações aoscargos e, por fim, como minimizar osimpactos negativos dessas interveniênciasno sentido de promover a melhoria nosserviços de saúde pública.
Sugestões de rumos
Os subordinados percebem a gestãopor meio de seu chefe imediato. Ele, odirigente, é o portador de todas as infor-mações e sensações que podem ser repas-sadas da “cabeça” aos “tentáculos” dasinstituições, sobretudo à gerência média,por estar diretamente e ativamente ligadaàqueles que executarão as fases finais(muitas vezes decisivas) dos produtos eserviços. Eles fazem a ponte que permiteque as informações transitem do planeja-mento estratégico, no mais das vezes,definido pela cúpula, aos executores.
Embora nesta pesquisa percebe-se queo nível intermediário sofreu várias inter-venções e mudanças para dar conta doatendimento de conchavos esperados emgovernos de colisão, em outras situações,e na maioria das vezes, eles são poucoalterados, ficando as chefias intermediárias(DAS 1, 2 e 3) a cargo de servidores decarreira. Assim, os chefes podem darcontinuidade e serem portadores das idéiasiniciadas em outros governos, para queos que ingressarem, oriundos de atendi-mentos político-partidários, possam darcontinuidade e atender ao mesmo tempo

RSP
205
Rose Marie Caetano
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 181-211 Abr/Jun 2007
necessidades técnicas e negociaçõesinterpartidárias.
Com exceção da área A, em que aschefias são ocupadas por funcionárioscontratados (consultores), todas as outrasáreas têm a maioria dos cargos de chefiamédia ocupada por servidores. A partir daí,a idéia é, se o investimento na capacitaçãodos servidores de carreira para se tornaremlíderes tiver um avanço substancial, osserviços terão uma melhora significativa.Se, contudo as verbas destinadas à capaci-tação forem extremamente restritas, entãoque se invista no nível intermediário dedirigentes, pois como foi constatado notrabalho de Freitas (2005), ao se investir nocrescimento do gestor, “por tabela”, seinvestirá no crescimento da equipe.
A dúvida surge quando se quer definiro campo de educação que deve ser focadopara os gestores, e talvez a resposta maisapropriada fosse: todos. Deve existir umaprogramação e um esforço concentradodos dirigentes e responsáveis pela área decapacitação para se trazer novos conheci-mentos e habilidades, seja em área decomunicação (redação), informática,gestão, ou conhecimentos específicosvoltados para legislações, farmácia oubiomedicina, tudo se tornará fértil para aárea na qual se semeará conhecimento paracolher desenvolvimento.
Além disso, oficinas em serviço outratando do desenvolvimento de habili-dades são sempre bem-vindas. Rodastemáticas, círculos de leitura, cursos emgrupo natural de aprender-fazendo,palestras e chats de troca de informaçõessão fundamentais para não perder o motocontínuo de conhecimento e habilidades.
Atitudes de mais comunicação eentrosamento devem ser incentivadas epremiadas, nesse sentido, deve-se investirmais em trabalho em equipe, grupo de
trabalho multidisciplinar (GTM), repassede conhecimento, enfim, em ações deconhecimento e, ao mesmo tempo, deestímulo à motivação dos trabalhadores.Aplausos devem ser dirigidos àqueles quese destacam pelo companheirismo naexecução de tarefas difíceis e pelo compar-tilhamento de informações. Dedicaçãoespecial dos colegas deve ser dada aos quesentem dificuldades por nunca terem sedeparado com um computador ou que,transferidos para área muito diferente dade sua formação, devido à extinção de seuórgão de origem se sentem excluídos.Lembrando: tudo isso compete ao gestordireto, chefia imediata.
Acima de tudo, os dirigentes devemser bem selecionados. O gestor deve serum bom planejador, ter conhecimentotécnico dos processos de trabalho de suaequipe ou ao menos ter a visão sistêmicados processos e serviços de sua área, saberorientar seu grupo, incentivando-o paracapacitação constante e levando-o aocrescimento pela possibilidade de partici-pação em bons cursos ou por sua presençaconstante e amiga no repasse de conheci-mentos e habilidades. Suas ações devemser tomadas como exemplo a ser seguido.Ele deve, ainda, demonstrar uma atitudejusta em relação aos subordinados: estaratento para reconhecer e recompensar osmais dedicados e os melhores técnicos eagindo com maior cobrança os menoscomprometidos, mostrando claramente(feedback) qual o desempenho esperado enos casos em que não há atendimento dasexpectativas, oferecer ajuda para recupe-ração do desempenho (ex.: cursos) ou teroutras atitudes positivas, mas sendo semprejusto nas avaliações e retornos.
A seleção de gestores, à exceção dosconcursos esporádicos para gestor deprograma, não é prática habitual. Não há

RSP
206
Legitimidade da liderança no Ministério da Saúde – um ensaio
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 181-211 Abr/Jun 2007
descrição profissiográfica do perfil dogestor com o registro claro dos predicadosacima citados e se há, não se leva em contana hora da designação de dirigentes. Diantedessa realidade, a saída, administrativa-mente possível, seria a habilitação dessaschefias por determinação, mesmo sabendoque alguns traços exigidos façam parte dapersonalidade.
Por fim, resta a esperança de que apreocupação e o entendimento de que ogestor-líder pode gerar melhoria no resultado
produtivo do grupo, e por conseqüêncianos serviços prestados pelo Ministério daSaúde venha à tona como tema a serabordado e considerado nas próximasações administrativas para o desenvolvi-mento institucional. Afinal, a prática dagestão competente é fundamental para oMinistério da Saúde no caminho incansávelda busca da melhoria nos serviços da saúdepública no Brasil.
(Artigo recebido em fevereiro de 2007. Versãofinal em junho de 2007).
Notas
* Este texto originou-se da monografia A legitimidade da liderança no Serviço Público com focopara o Ministério da Saúde em Brasília - um ensaio, apresentada como trabalho de conclusão do cursode Especialização em Políticas Públicas e Gestão Estratégica da Saúde, para servidores do Minis-tério da Saúde e dos núcleos estaduais, favorecendo a consolidação do Sistema Único de Saúde,realizado em parceria pela ENAP, pela Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) e pelo Ministérioda Saúde.
1 Portaria GM no 1.121, de 23 de maio de 2006, do Ministério da Saúde, que institui oPrograma de Educação Permanente e aprova critérios gerais para participação dos profissionais emeventos de capacitação do Ministério, em seu art. 9o: Cada servidor poderá participar de, no máximo,três eventos que exijam contratação de vagas no mercado, durante o exercício orçamentário-financeiro,podendo apenas um deles, ser de longa duração. (É entendido por eventos de longa duração: aquelecom carga horária superior a 80 horas (dez dias úteis).
2 Conceito utilizado para descrever o fenômeno da privatização do setor público, ou seja, aformação de grupos de pressão em torno do aparelho estatal, buscando vantagens pessoais ou parasuas respectivas classes.
3 Instituto Nacional de Assistência Média da Previdência Social4 Programa criado pelo Ministério da Saúde para constituir um espaço de discussão e análise
acerca do SUS, identificando-o como um processo histórico e socialmente construído. Para maisinformações: <http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/area.cfm?id_area=1056>.
5 Projeto de Lei Orçamentária e Plano Plurianual6 No texto, “Carreiras Públicas em uma ordem democrática: entre os modelos burocrático e
gerencial”, Clóvis Bueno de Azevedo e Maria Rita Loureiro (2003) comentam sobre o assunto.7 Muitos estudiosos do assunto apresentaram teorias próprias baseadas em análises das carac-
terísticas dos tipos de poder e tipos ou estilos de liderança, como os tipos puros mencionados porWeber. O interessante é que, mesmo com distintos nomes, as diversas teorias mantêm semelhançasentre si e muitas delas deram novas denominações para os mesmos tipos de liderança observados.

RSP
207
Rose Marie Caetano
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 181-211 Abr/Jun 2007
Numa comparação mais detalhada do conteúdo, é possível se constatar que são apresentadas apenasdiferenças semânticas, recaindo, a análise essencial, nos mesmos três princípios geradores de caracte-rísticas básicas.
Weber fornece uma boa noção de seu pensamento central sobre dominação ou poder, ele comentaque os tipos puros são apenas três, mas menciona a alternância e entrelaçamento deles com as estruturassociológicas adjacentes, provocando uma reflexão sobre essas influências na administração.
Apenas para uma idéia, eis os tipos de dominação de Weber:• Dominação LegalPalavra-chave: estatutoTipo mais puro: dominação burocrática (eleita ou nomeada) e súditos: funcionários (cidadãos,
“camaradas”).• Dominação TradicionalPalavra-chave: crençaTipo mais puro: dominação: senhoril e súditos: servidores.• Dominação CarismáticaPalavra-chave: devoção afetivaTipo mais puro: a dominação: líder e súditos: apóstolos8 A diferença pode ser percebida, inclusive, em ditos populares que alertam sobre os estigmas
de poder temerário para o chefe. Quando que, em relação à liderança, não apresentam esse temor.Frases como: “Chefe é aquele que manda...obedece quem tem juízo”, ou textos em livretos como ode Gehringer (2003) que satirizam a chefia na organização em que vemos pérolas como:
“Se seu chefe lhe disser que sua idéia já foi tentada antes e que não funcionou, ele pode ser:a) incompetente, b) ultrapassado, ou c) invejoso. De qualquer forma, não insista nem reclame.O fato de seu chefe ainda estar na empresa significa que já tentaram contrariá-lo antes, e nãofuncionou.” ( MOTTA, 2003, p. 17).Ou ainda:“Entender um organograma é simples:Chefe é o que conta uma piada sem graça.Subordinado é o que ri dela.e potencial é o que pede para o chefe contar outra’.”9 “O líder responsável é o homem de frente; é o que preenche essa função formalmente na
organização; é o que tem de prestar contas à autoridade superior quando requerido.O líder efetivo é o mais importante na estrutura individual; é ele quem realmente decide; é a ele
que se recorre em situações difíceis; suas perguntas são sempre respondidas.O líder psicológico é o mais poderoso na estrutura privada de cada um dos membros. Estes
requerem certas qualidades do seu ídolo e, por isso, é o que tem chance de sobreviver como umpatriarca (euhemerus).
10 Faça um X (e apenas um) para cada questão e não deixe de ler os dois lados da questão parabem situar-se. Quanto mais para a direita você anotar o número (5) mais você concorda com a fraseda direita e quando mais à esquerda você anotar (1) mais você concorda com a frase da esquerda.
11 Conceitos de estatística. Moda é o valor que ocorre mais vezes em uma mesma freqüência;média é o valor calculado a partir de uma distribuição, segundo regra previamente definida, e querepresenta essa distribuição em valores.

RSP
208
Legitimidade da liderança no Ministério da Saúde – um ensaio
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 181-211 Abr/Jun 2007
Referências bibliográficas
ABRUCIO, Fernando Luiz. O impacto do modelo gerencial na Administração Pública. Brasília:Cadernos ENAP, volume 10, 1997.ALECIAN, Serge; FOUCHER, Dominique. Guia de gerenciamento no setor público. [CAVALCANTI,Márcia, tradução] – Rio de Janeiro: Revan; Brasília: ENAP, 2001.AZEVEDO, Clovis B.; LOUREIRO, Maria Rita. Carreiras públicas em uma ordem democrá-tica: entre os modelos burocrático e gerencial. COHN, Gabriel (trad.). Revista do ServiçoPúblico, ano 54, no 1 – Jan - mar/2003 – Brasília: ENAP, 2003.BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Gestão por competências em organizações do governo – Mesa-redonda de pesquisa-ação – relator: Sideni Pereira Lima. Brasília: ENAP, 2005.
. Secretaria Executiva. Coordenação de apoio à gestão descentralizada.Diretrizes operacionais para os pactos pela vida, em defesa do SUS e de gestão. Série:Pactos pela Saúde 2006 – volume I – Documento pactuado na reunião da ComissãoIntergestores Tripartite do dia 26 de janeiro de 2006 e aprovado na reunião do ConselhoNacional de Saúde do dia 09 de fevereiro de 2006.
. Proposta Preliminar para Discussão das Diretrizes Nacionais para a Instituição dePlanos de Carreiras, Cargos e Salários no Âmbito do Sistema Único de Saúde. PCCS-SUS, 2004.
. Regulação e Gestão de Recursos Humanos em Saúde na Perspectiva da Reformado Estado. Relatório final – 1998. Brasília: MS/UnB, Organização Pan-Americana daSaúde, 1998.CHAMPY, James. Reengenharia da gerência: o mandato da nova liderança Rio de Janeiro:Campus, 1995.COHN, Gabriel (org.). Max Weber – sociologia. FERNÁNDEZ, Florestan (trad.). extraídosdos textos originais, 2004.FREITAS, Isa Aparecida de. Impacto de treinamento nos desempenhos do indivíduo e do grupo detrabalho: suas relações com crenças sobre o sistema de treinamento e suporte à aprendi-zagem contínua. – [Tese de mestrado] – Brasília: UnB/Instituto de Psicologia, 2005.GEHRINGER, Max. Máximas e mínimas da comédia corporativa – São Paulo: Gente, 2003.GOW, Ian. Um modelo canadense de administração pública. Cadernos ENAP 26, Brasília: ENAP,2004. HALL, Donald. Desenvolvimento gerencial no setor público: tendências internacionais e organizaçõeslíderes, Cadernos ENAP 21, Brasília: ENAP, 2002.LAPIERRE, Laurent. (coord) Imaginário e liderança na sociedade, no governo, nas empresas e namídia – Vol. I. Organização da edição brasileira e revisão técnica de Ofélia de LannaSette Tôrres, - São Paulo: Atlas, 1995.LONGO, Francisco. A consolidação institucional do cargo de dirigente público. Revista doServiço Público, vol. 54, no 2 – Abr/jun 2003, Brasília: ENAP, 2003.MATUS, Carlos. Estratégias políticas: chimpanzé, Maquiavel e Gandhi. SAUVEUR, GiseldaBarroso (trad.). São Paulo: FUNDAP, 1996.

RSP
209
Rose Marie Caetano
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 181-211 Abr/Jun 2007
MORGAN, Gareth. Imagens da organização – BERGAMINI, Cecília; CODA, Roberto (trad.).São Paulo: Atlas, 1996.MOTTA, Paulo Roberto. Gestão contemporânea: a ciência e a arte de ser dirigente – 10 ed. Rio deJaneiro: Record, 1999. . O líder sem Estado-Maior. SAUVEUR, Giselda Barroso (trad.). São Paulo: FUNDAP, 2000.NURENBERG, Bárbara. Gerência de recursos humanos no setor público: lições das reformas empaises desenvolvidos. Brasília: ENAP, 1998.PACHECO, Regina Silvia. Política de recursos humanos para a reforma gerencial: realizaçõesperíodo 1995-2002. Revista do Serviço Público, ano 53, no 4 – out/dez 2002. Brasília:ENAP, 2002.ROBBINS, Harvey; FINLEY, Michael. Por que as equipes não funcionam: o que não deu certo ecomo torná-las criativas e eficientes. Rio de Janeiro: Campus Ltda, 1997.SILVA, Adélia Cristina Zimbrão da. SUS: avanços e obstáculos no processo dedescentralização e coordenação intergovernamental. Revista do Serviço Público, ano 55, no 4 ,out/dez 2004. Brasília: ENAP, 2004.SOUZA, Antonio Ricardo; ARAÚJO, Vinícius de Carvalho. O estado da reforma: balançoda literatura em gestão pública (1994/2002). Revista do Serviço Público, vol. 54, no 2,Abr/jun 2003. Brasília: ENAP, 2003.SOUSA, Edela Lanzer Pereira de. Clima e cultura organizacionais: como se manifestam ecomo se manejam. São Paulo: Edgard Blücher; (Porto Alegre): Programa de pós-gra-duação em Administração/PPGA, 1978.
Referências complementares
CHEIBUB, Zairo B.; LOCKE, Richard M. Reforma administrativa e relações trabalhistas no setorpúblico. Cadernos ENAP 18, Brasília: ENAP, 1999.CHRISTENSEN, Tom; LOEGREID, Per. La nueva administración pública: el equilibrio entrela gobernanza política y la autonomía administrativa. Revista do Serviço Público, ano 52, no
2, abr/jun 2001. Brasilia: ENAP, 2001.FERLIE, Ewan; ASBURNER, Lynn; FITZGERALD, Louise; PETTIGREW, Andrew. The new publicmanagement in action. OLIVEIRA, Sara Rejane de Freitas (trad.). Brasília: Ed. UnB/ENAP, 1999.HERMAN, Bakvis; JUILLET, Luc. O desafio horizontal: ministérios setoriais, órgãos centrais eliderança. Cadernos ENAP 27. Brasília: ENAP, 2004.HUSENMAN, Samuel. Relações organizacionais no serviço catalão de saúde. Cadernos ENAP,volume 13.
. Reforma do Estado no setor de saúde: os casos da Catalunha, Canadá e EstadosUnidos. Brasília: ENAP, 2003.

RSP
210
Legitimidade da liderança no Ministério da Saúde – um ensaio
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 181-211 Abr/Jun 2007
MARCONI, Nelson. A evolução do perfil da força de trabalho e das remunerações nossetores público e privado ao longo da década de 1990. Revista do Serviço Público, vol. 54,no 1, jan/mar 2003. Brasília: ENAP, 2003.NININGER, James R.; ARDITTI, Marilyn J. A renovação das organizações: gerenciando transiçõesna força de trabalho, Cadernos ENAP 28. Brasília: ENAP, 2002.PETRUCCI, Vera; DSHWARZ, Letícia (org). Administração pública gerencial: a reforma de 1995– ensaios sobre a reforma administrativa brasileira no limiar do século XXI. Brasília: EdUnB/ENAP, 1999.Rey, Fernando Luis González. Pesquisa qualitativa em psicologia – caminhos e desafios. SILVA,Marcel Aristides Ferrada (trad.). São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002.SCHWELLA, Erwin. Inovação no governo e no setor público: desafios e implicações paraa liderança. Revista do Serviço Público, vol. 56, no 3, jul/set 2005. Brasília: ENAP, 2005.STOYKO, Peter; FUCHS, Annette. Aprendizagem ao alcance de todos: a experiência do governocanadense em educação por meio eletrônico. Cadernos ENAP, 29. Brasília: ENAP,2005.

RSP
211
Rose Marie Caetano
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 181-211 Abr/Jun 2007
Resumo – Resumen – Abstract
Legitimidade da liderança no Ministério da Saúde – um ensaioRose Marie CaetanoO presente artigo procura mostrar como a liderança dos dirigentes pode melhor conduzir os
trabalhadores e como isso pode aprimorar o serviço público, com destaque para a área da saúde. Paraisso, faz-se uma análise bibliográfica sobre as transformações da gestão ocorridas no serviço públicoe no Brasil, bem como das relações de poder e liderança, e uma pesquisa qualitativa junto aostrabalhadores em áreas administrativas do Ministério da Saúde, em Brasília. A conclusão destetrabalho é um convite à reflexão sobre a intersecção desses planos de estudo e o entendimento deque o gestor-líder pode gerar melhoria no resultado produtivo do grupo e, por conseqüência, nosserviços públicos prestados.
Palavras-chave: liderança; serviço público; clima organizacional
Legitimidad del liderazgo en el Ministerio de la Salud – uno ensaioRose Marie CaetanoEl actual artículo intenta mostrarnos como el liderazgo de los dirigentes puede conducir los
trabajadores de la mejor forma y como esto puede perfeccionar el servicio público, enfatizando elcampo de la salud. Por esto, fue hecho un análisis bibliográfico de los cámbios de la gestión queocurrieron en el servicio público y en Brasil, e incluso de las relaciones de poder y liderazgo. Haytambién una investigación cualitativa de los trabajadores en campos administrativos del Ministériode la Salud ubicado en Brasília. La conclusión a la que la investigación llegó es una invitación areflexionar sobre la intersección de estos planes de estudio y inclusive un entendimiento de que elgestorlíder puede regir mejorías en el resultado productivo del equipo y, en consecuencia, en losservicios públicos.
Palabras-clave: liderazgo; servicio público; organización
Authenticity of leadership in the Brazilian Ministry of Heath – a case studyRose Marie CaetanoThe present article aims to show how senior manager leadership may best lead civil servants
and thus improve public service, especially the public health care system. In order to confirm thatstatement, the article presents a theoretical analysis about the management transformations in theBrazilian public service, as well as relations of power and leadership and also a qualitative researchon administrative workers of the Brazilian Ministry of Health. As a conclusion, the article invitesa reflection be made on the intersection of case studies and the understanding that the leadermanager can actually improve and ameliorate the team’s results and therefore the delivery ofpublic services.
Keywords: leadership; public service; organization

RSP
212
Legitimidade da liderança no Ministério da Saúde – um ensaio
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 181-211 Abr/Jun 2007
Rose Marie CaetanoÉ especialista em administração de recursos humanos e políticas e gestão de serviços de saúde pública. Foiinstrutora e participou da construção de treinamentos em comunicação empresarial, desenvolvimento humanoe modernização, tendo colaborado, nas áreas de DSTs e AIDS e Modernização do Ministério da Saúde eresponsável pelo módulo de administração do curso de pós graduação da Fiocruz.Atualmente trabalha comoconsultora para o Ministério da Saúde em áreas de desenvolvimento institucional, clima organizacional (arquiteturaorganizacional, modelagem de processos e controles internos) e planejamento.Contato: <[email protected]>.

RSP
213
Tatiana Ramminger e Henrique Caetano Nardi
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 213-226 Abr/Jun 2007
Saúde do trabalhador:um (não) olhar sobre o
servidor público
Tatiana Ramminger e Henrique Caetano Nardi
Pretendemos partilhar neste texto algumas considerações a respeito dos
discursos e práticas da área da saúde do trabalhador em relação aos trabalhadores
dos serviços públicos brasileiros. Iniciamos demarcando a construção da área
da Saúde do Trabalhador enquanto política pública no Brasil, identificando como
as Conferências Nacionais de Saúde do Trabalhador trataram o tema da saúde
do servidor público. Em seguida, analisamos entrevistas semi-abertas realizadas
com profissionais da Perícia Médica de um estado brasileiro1.
Textos e contextos: da Medicina do Trabalho à Saúde do Trabalhador
Foucault (2001) demonstrou como o capitalismo reconfigurou as relações
sociais e subjetivas, sobretudo no que diz respeito ao controle sobre o corpo e,
conseqüentemente, sobre a saúde das populações. Em um processo que o autor
define como biopolítica, a vida e seus mecanismos entram na ordem do saber e
do poder, ou melhor, a vida passa a ser preocupação política. Esse fenômeno
foi indispensável, talvez de maior amplitude que a moral ascética (WEBER, 1996),

RSP
214
Saúde do trabalhador: um (não) olhar sobre o servidor público
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 213-226 Abr/Jun 2007
para o desenvolvimento do capitalismo,que só pôde ser garantido à custa da inser-ção controlada dos corpos no aparelho deprodução e por meio de um ajustamentodos fenômenos da população aosprocessos econômicos.
A área da Saúde do Trabalhador noBrasil, como política pública e como redeenunciativa, foi sendo construída nas dife-rentes conjugações de força entre capital,trabalho e Estado. Como em todo mundoocidental e capitalista, no Brasil o sistema desaúde se desenvolveu a partir da assistênciaà saúde dos trabalhadores urbanos. Nahistória brasileira, a preocupação com amanutenção do corpo que trabalha jáaparece nos cuidados médicos dispensadosaos escravos durante o Império. Em 1888,o primeiro grupo de trabalhadores, no casoos empregados dos Correios, adquire odireito à aposentadoria assegurado em lei,seguidos pelos ferroviários e marinheiros.
A imigração européia, que veiofornecer a força de trabalho qualificadapara a indústria nascente (em um momen-to histórico marcado pelo eugenismo epelo desprezo da força de trabalhonacional), contribui, sobretudo por meiodos trabalhadores identificados com oanarquismo, com o incremento da orga-nização dos trabalhadores brasileiros. Em1906 acontece o I Congresso OperárioBrasileiro, em um movimento crescenteque culmina com a Greve Geral de 1917,em São Paulo, com importantes desdo-bramentos para a luta dos trabalhadoresno Brasil, entre eles, a primeira Lei doAcidente de Trabalho, em 1919. O anode 1923 marca o início da PrevidênciaSocial, com a criação da Caixa de Aposen-tadoria e Pecúlio para uma empresaferroviária, que acabou por se estenderpara outras categorias, principalmente apartir do governo de Getúlio Vargas.
Nessa época, 50% das fábricas já tinhammédicos, mas o atendimento era reser-vado apenas para os operários com “bomcomportamento”. Os acidentes detrabalho eram encaminhados às SantasCasas de Misericórdia, que atendiam todasorte de “indigentes”, evidenciando quea saúde estava mais ligada à caridade doque a um direito (ROCHA, 1993a).
Após esse período, com GetúlioVargas, o Estado toma para si o papel deprincipal regulador das relações de trabalho(ROCHA, 1993b). Em 1930 é criado oMinistério do Trabalho, Indústria eComércio, tendo como uma dasatribuições, orientar e supervisionar aPrevidência Social, incrementada pelacriação dos institutos de seguridade social,organizados por categorias profissionais.Luz (1991) observa que o Estado partici-pava da gestão dos sindicatos e institutos,controlando a seleção, a formação e aeleição de seus dirigentes, corroborandopara a principal característica da Era Vargas,qual seja, o clientelismo.
A Consolidação das Leis doTrabalho (CLT), em 1943, vai reunir alegislação referente à organização sindical,previdência social, proteção ao traba-lhador e justiça do trabalho, permane-cendo como a base da legislação traba-lhista até hoje. Em relação à saúde,somente em 1978, o Capítulo V da CLTvai dispor sobre as Normas Regula-mentadoras de Segurança e Medicina doTrabalho, as quais são constantementemodificadas e atualizadas conforme ostensionamentos entre os diferentes saberesdessa área e as conseqüentes possibilidadespolíticas, porém os servidores públicosnão são incluídos na legislação de saúde esegurança do trabalho, na medida em quesão normas voltadas aos trabalhadoresceletistas.

RSP
215
Tatiana Ramminger e Henrique Caetano Nardi
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 213-226 Abr/Jun 2007
A promulgação da Constituição de1946 marca um novo período nas relaçõesentre saúde e trabalho. Apesar de não alterara estrutura sindical, que permanece forte-mente atrelada ao Estado, percebe-se umaredemocratização da Previdência, com umaumento significativo das despesas com aassistência médica dos seus segurados, e acriação da Lei Orgânica de PrevidênciaSocial (LOPS). O Ministério da Saúdetorna-se autônomo em relação ao Minis-tério da Educação, em 1953, mas aindanão atua na saúde dos trabalhadores, sendoque esta esfera mantém-se sob responsa-bilidade do Ministério do Trabalho. Em1963 temos a promulgação do Estatutodo Trabalhador Rural, como resultado dapressão exercida pelas ligas camponesas(ROCHA, 1993c).
Com a ditadura militar, o períodoentre 1964-1980 é marcado por fortecentralização política. O período se iniciacom o silenciamento dos sindicatos epartidos de esquerda e termina com osurgimento de novos movimentos sociaiscom outras pautas de reivindicação, comoaqueles que inseriram a saúde como lutapolítica, por exemplo. Com relação aossindicatos, houve intervenção em 70%daqueles com mais de cinco mil traba-lhadores, considerando que a “Lei daGreve”, de 1964, impedia o livre exer-cício da atividade sindical. Já em relaçãoà saúde, optou-se por uma diminuição doorçamento do Ministério da Saúde, emparalelo ao aumento dos gastos com aassistência médica da Previdência Social,bem como com o estabelecimento deconvênios médicos com as empresas e acompra de serviços em saúde do setorprivado. Esse conjunto de medidasevidencia que o direito à saúde perma-nece relacionado ao contrato formal detrabalho (carteira assinada), com a
diferença de que, nesse período, o prin-cipal papel da Previdência passa a serfinanciar o crescimento da atenção médicano setor privado (LUZ, 1991; ROCHA,1993d).
Ainda em 1966 é instituído o Insti-tuto Nacional de Previdência Social(INPS), reunindo os seis Institutos deAposentadorias e Pensões até então exis-tentes, e é criado o Fundo de Garantiapor Tempo de Serviço (FGTS), cuja
função foi substituir a estabilidade noemprego. Em 1970, o INPS sofreu umacentralização administrativa, que culminoucom a exclusão dos trabalhadores de suadireção. Em 1974 houve o desmem-bramento do Ministério da Previdência eAssistência Social e do Ministério doTrabalho. O primeiro ficou responsávelpelo pagamento dos benefícios e atendi-mento ao segurado; o segundo, por fiscalizar
“Em um processodefinido comobiopolítica, a vidae seus mecanismosentram na ordemdo saber e dopoder, ou melhor,a vida passa aser preocupaçãopolítica” (Foucault).

RSP
216
Saúde do trabalhador: um (não) olhar sobre o servidor público
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 213-226 Abr/Jun 2007
as ações obrigatórias de prevenção deacidentes, segurança e medicina do trabalhonas empresas, além de velar pelo respeito àlegislação trabalhista como um todo.
Todas essas iniciativas afirmam umoutro papel para o Estado na mediaçãodas relações entre capital e trabalho. Sobessa nova estrutura, surge a base do sistemabrasileiro de atenção à saúde dos traba-lhadores, com caráter eminentementeprivado, ligado ao capital e ancorado narede enunciativa da Medicina do Trabalho(NARDI, 1999). Características muito clarasdesse modelo são a centralidade na figurado médico, a visão biológica, individual eunicausal das doenças e acidentes dotrabalho (DIAS, 1994; MINAYO-GOMEZ;THEDIM-COSTA, 1997). A Saúde Ocupa-cional, identificada por alguns autorescomo estágio intermediário entre aMedicina do Trabalho e a Saúde doTrabalhador, não chega a alterar asposições dos saberes que justificam asrelações de poder capital-trabalho, refe-rindo-se a uma passagem da unicausalidadepara a multicausalidade na explicaçãoetiológica das doenças; e de um modeloexclusivamente médico para um modelomultiprofissional, mas ainda centrado nomédico (NARDI,1999).
A partir de 1978, os movimentossociais revigoram-se e tomam força. Sãorealizadas grandes greves pelos metalúr-gicos do ABC paulista, marcando a reto-mada da organização dos trabalhadoresem prol de uma pauta consistente dereivindicações. Em 1980, é criado oDepartamento Intersindical de Estudos ePesquisas de Saúde e dos Ambientes deTrabalho (DIESAT), apontando para umanova proposta na luta pela melhoria dascondições de trabalho, a partir de umaaliança entre técnicos da saúde e sindicalistas.Diante do quadro de mudanças, a Saúde
do Trabalhador apresenta-se como novaárea de análise e luta, diferenciando-se daMedicina do Trabalho e da Saúde Ocupa-cional. Sua principal característica é tomaro processo de trabalho como ponto departida para analisar a relação entre saúdee trabalho, ao mesmo tempo em quepretende valorizar o saber e a experiênciado trabalhador sobre seu próprio ofício,entendendo-o como sujeito ativo doprocesso saúde-doença e não, simples-mente, como objeto de atenção à saúde(DIAS, 1994; NARDI, 1999).
Concomitante às discussões dasprincipais diretrizes do Sistema Único deSaúde (SUS) na VIII Conferência Nacionalde Saúde, realizava-se a I ConferênciaNacional de Saúde do Trabalhador,marcando o conflito com os setorestradicionais da Medicina do Trabalho, pois“instaurar o novo paradigma implica, porconseguinte, enfrentar e extrapolar asconcepções tecnicistas hegemônicas nessaárea especializada da medicina e da enge-nharia. Concepções consolidadas quefornecem soluções modelares, reprodu-zidas na formação de profissionais esustentadas por volumosos recursoseconômicos e técnicos” (MINAYO-GOMEZ;THEDIM-COSTA, 1997).
A Saúde do Trabalhador passa a ternova definição a partir da ConstituiçãoFederal de 1988 que, ao mencionar a saúdedo trabalhador e o ambiente de trabalho, ofaz expressamente no capítulo do direito àsaúde. Seguindo essa definição, a Lei Federal8.080/1990 estabelece que a Saúde doTrabalhador é área de atuação do SistemaÚnico de Saúde, e não mais atribuiçãoexclusiva do Ministério do Trabalho eEmprego ou do Ministério da PrevidênciaSocial. Dias (1993) resume as competênciasdo SUS, em relação à saúde dos trabalha-dores, conforme aparecem na referida lei:

RSP
217
Tatiana Ramminger e Henrique Caetano Nardi
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 213-226 Abr/Jun 2007
assistência ao trabalhador vítima de acidentedo trabalho ou doença ocupacional;realização de estudos, pesquisas, avaliaçãoe controle de riscos e agravos nosambientes de trabalho; normatização dafiscalização e controle dos riscos à saúdedos trabalhadores (“invasão” do espaçodo Ministério do Trabalho que detinhaexclusividade na fiscalização); avaliação dosimpactos das novas tecnologias; e infor-mação aos trabalhadores e empregadores.
No entanto, a redação de alguns artigosda Constituição abriu brechas para asobreposição das atribuições do Ministériodo Trabalho e do Ministério da Saúde:“Confundiu-se, inadequadamente, ainspeção do trabalho, reservada à União (CF,art. 21, XXIV), com a vigilância da saúdedos trabalhadores, obrigações do sistemade saúde que, por mandamento constitu-cional, deve ser descentralizado para todasas esferas do governo (CF, art. 198,I)”(BRASIL, 2001). Essa confusão entre os papéisdas organizações governamentais não deixade ser um analisador, que revela a disputapolítico-ideológica, presente nessa área: entreaqueles que seguem a defender o modeloda Medicina do Trabalho (mesmo sob novanomenclatura) e outros que tentam não sólegitimar, mas fazer avançar, o modelo pro-posto pela Saúde do Trabalhador. Sendoassim, o Estado apresenta-se como palcoda disputa pela hegemonia do saber arespeito das relações saúde-trabalho, nasquais os técnicos de saúde ligados ao SUS eaos sindicatos tendem a estar mais vinculadosà área da Saúde do Trabalhador, enquantoos técnicos das empresas, do Ministério doTrabalho e da Previdência Social identificam-se, em sua maioria, com a Medicina doTrabalho (NARDI, 1999).
Apesar das normas e da legislação, ogoverno federal ainda tem um longocaminho para a construção de uma política
forte para o setor, que garanta subsídiospara os estados e municípios com instru-mentos de gestão consistentes e recursossuficientes. Nessa direção, temos algumaspropostas de projeto de lei para definiçãomais clara do papel do SUS nas ações deSaúde do Trabalhador, bem como aPortaria do Ministério da Saúde 1.679/2002, que dispõe sobre a estruturação daRede Nacional de Atenção Integral à Saúdedo Trabalhador (RENAST). “A RENASTé uma rede desenvolvida de forma articu-lada entre o Ministério da Saúde, as secre-tarias de saúde dos estados, do DistritoFederal e dos municípios. Tem comoobjetivo articular, no âmbito do SUS, açõesde prevenção, promoção e recuperação dasaúde dos trabalhadores urbanos e rurais,independentemente do vínculo empre-gatício e tipo de inserção no mercado detrabalho” (BRASIL, 2007).
Chamamos a atenção, no entanto, parao fato de que as políticas públicas direcio-nadas à saúde do trabalhador tendem a tercomo foco principal os trabalhadoresvinculados às organizações privadas,deixando uma importante lacuna na atençãoà saúde para os servidores públicos. Anali-sando brevemente como o tema da saúdedo servidor público foi tratado nas Confe-rências Nacionais de Saúde do Trabalhador(CNST), veremos que a ênfase sempreesteve na formação e na justa remuneraçãodo servidor público, sem priorizar a relaçãoentre saúde e trabalho. Em relação à escassabibliografia sobre o tema, encontramosapenas um artigo que relata a experiênciade saúde do trabalhador público, realizadana Prefeitura de São Paulo, nos aspectosrelacionados à perícia médica, à assistênciae à promoção da saúde, sendo que a saúdedo servidor público foi tratada como temada área de gestão de pessoas (CARNEIRO,2006).

RSP
218
Saúde do trabalhador: um (não) olhar sobre o servidor público
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 213-226 Abr/Jun 2007
Discursos: a saúde do servidorpúblico nas Conferências Nacionaisde Saúde do Trabalhador
I Conferência Nacional de Saúdedo Trabalhador
Realizada em dezembro de 1986, aI Conferência Nacional de Saúde doTrabalhador teve como principal marca, aformulação de conteúdos para a PolíticaNacional de Saúde do Trabalhador, osquais foram incorporados na ConstituiçãoFederal de 1988 e na Lei do SUS, em 1990.Já na sua forma de organização, ficaevidente o esforço para quebrar a hege-monia do Ministério do Trabalho –percebido naquele momento comointimamente ligado aos interesses empre-sariais – nas ações referentes à saúde dotrabalhador, levando-a efetivamente paraa área da saúde. Na falta de uma definiçãomais clara do Ministério da Saúde, quemcoordena a organização das Conferênciasé o Centro de Estudos da Saúde doTrabalhador e Ecologia Humana da EscolaNacional de Saúde Pública – Fiocruz. Osempresários foram os principais ausentesnos processos de discussão e deliberação,com apenas 1% de representação entre osdelegados participantes.
Em seu Relatório Final (BRASIL, 1986),a Conferência estabelece o consenso de quea saúde dos trabalhadores extrapola oslimites da saúde ocupacional, introduzindoo conceito ampliado de saúde. Afirma anecessidade de revisar a legislação,ampliando as listas de doenças ocupa-cionais, com uma legislação única queassegure os mesmos direitos a todos,independentemente de trabalharem na áreaurbana, rural, pública ou privada. Enfatiza,em vários momentos, a necessidade dacriação de um Sistema Único de Saúde,com descredenciamento da rede privada
e programas específicos de atendimentoao trabalhador. Em relação à vigilância,sugere que as ações sejam de responsa-bilidade do SUS, com participação dostrabalhadores, evitando-se que os profis-sionais que realizam a fiscalização tenhamvínculos com a empresa. Da mesmaforma, criticam a subordinação dosServiços de Engenharia, Segurança eMedicina do Trabalho (SESMTs) àsempresas, sugerindo que os mesmosfiquem sob controle dos sindicatos ou dasassociações de classe. As questões relativasao trabalho rural e à proibição do trabalhodo menor de idade são destacadas emvários itens. Levanta a necessidade doenvolvimento cada vez maior dos sindi-catos na questão da saúde como objetivode luta, ressaltando a importância daorganização dos trabalhadores para a aber-tura de novos espaços. Em seu último eixoa Política Nacional de Saúde dos Traba-lhadores, estabelece direitos básicos desaúde do trabalhador. Em relação aosportadores de deficiência, estabelece odireito ao trabalho, acompanhamento emsaúde, reabilitação e reinserção no trabalho,bem como aposentadoria especial.
Quanto aos servidores públicos, tecemcomentários sobre os trabalhadores desaúde, defendendo uma política derecursos humanos que reoriente suaformação e garanta uma remuneraçãodigna dos mesmos, não chegando adiscutir a relação entre saúde e trabalho.
II Conferência Nacional de Saúdedo Trabalhador
A II Conferência Nacional de Saúde doTrabalhador foi realizada oito anos depois,sob a égide da Constituição Federal e daLei Orgânica da Saúde, na qual está incor-porada a atenção à saúde dos trabalhadorescomo papel do SUS. Seu tema central foi

RSP
219
Tatiana Ramminger e Henrique Caetano Nardi
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 213-226 Abr/Jun 2007
Construindo uma Política de Saúde do Trabalhador,e os temas complementares: Desenvolvi-mento, meio ambiente e saúde; Cenário desaúde do trabalhador de 1986 a 1993 eperspectivas; e Estratégias de avanço naconstrução da Política Nacional de Saúdedo Trabalhador. As principais marcas dessaconferência, segundo seu relatório, foram adefinição da unificação das ações de saúdedo trabalhador no SUS e a discussão dasdimensões políticas, sociais, econômicas,técnicas e gerenciais desse caso particular depolítica pública.
Uma das principais propostasaprovadas na Plenária Final (BRASIL, 1994)foi a necessidade de unificação de todas asações de saúde do trabalhador no SistemaÚnico de Saúde. Em relação à saúde doservidor público, aparece a preocupação emgarantir ações dentro do sistema de vigi-lância e fiscalização nas instituições públicase privadas (p.17); a criação de Comissõesde Saúde do Trabalhador nos serviçospúblicos e privados (p.20); e a exigência deque o serviço público em todas as esferasde governo, enquanto empregador, passe aemitir a Comunicação de Acidente deTrabalho (CAT)2 (p. 35). Ao trabalhador dasaúde foi dedicado um capítulo específico(capítulo V – Recursos Humanos para aSaúde do Trabalhador), o qual afirma anecessidade de regulamentar e cumprir asregulamentações e resoluções já existentesem relação à formação de recursoshumanos para a saúde; defende que osCentros de Referência em Saúde do Traba-lhador sejam locais de formação na área desaúde e trabalho, reconhecendo a naturezamultidisciplinar e continuada da formaçãonessa área, bem como a necessidade deinclusão dos profissionais de serviço sociale psicologia nas equipes de saúde,“permitindo maior humanização do serviçoe defesa dos interesses dos trabalhadores”
(BRASIL, 1994). Sobre gestão dos recursoshumanos pelo Estado, afirma-se que ogoverno deve investir na qualificação dostrabalhadores dos serviços públicos desaúde; ampliar, mediante concurso público,o quadro de pessoal voltado para as açõesde saúde do trabalhador no SUS; implantaro Plano de Carreira, Cargos e Salários(PCCS), incentivando o regime de dedi-cação exclusiva para os profissionais dasaúde; e, finalmente, regulamentar a
formação profissional e a situação traba-lhista dos agentes comunitários de saúde.Considerando a atuação dos profissionaisda área, o relatório explicita que se deve“tomar como objeto de análise, nas açõesde vigilância em saúde do trabalhador, asrelações profissionais e institucionais a queestão submetidos os profissionais de saúde,contemplando, inclusive, aspectos de suasaúde mental” (ibidem, p.27).
“As políticaspúblicas direcionadasà saúde dotrabalhador tendema ter como focoprincipal ostrabalhadoresvinculados àsorganizaçõesprivadas, deixandouma importantelacuna na atençãoà saúde para osservidores públicos”.

RSP
220
Saúde do trabalhador: um (não) olhar sobre o servidor público
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 213-226 Abr/Jun 2007
Embora a III Conferência Nacionalde Saúde do Trabalhador tenha se realizadoem dezembro de 2005, seu relatório aindanão foi publicado (maio de 2007). Motivopelo qual não o incluímos nesta revisão.Pela análise das Conferências percebemosque a ênfase de ambas, considerando otrabalhador servidor público, foi aformação e a justa remuneração doservidor, sem priorizar a relação entre saúdee trabalho. Sendo assim, voltamos a repetir,tanto nas políticas públicas como nasConferências, as formas de organização eas relações de trabalho do servidor públiconão foram priorizadas, sequer proble-matizadas, como evidencia, de formacontundente, o exemplo a seguir.
Práticas: ações em saúde dotrabalhador para o servidor público –o caso de um estado brasileiro
Um dos objetivos da pesquisa à qualeste trabalho se refere (RAMMINGER, 2006)foi mapear a política e os serviços de atençãoà saúde do servidor público, com ênfasenos trabalhadores da área de saúde. Tivemosoportunidade de conhecer a realidade deapenas um estado brasileiro, mas consi-deramos que seja representativa do queacontece em grande parte de nosso País.
Comecemos relembrando que aspolíticas públicas direcionadas à saúde dotrabalhador elegeram como foco principalos trabalhadores vinculados às organi-zações privadas, deixando uma importantelacuna na atenção em saúde para os servi-dores públicos. Essa constatação não deveser confundida com a defesa da criaçãode centros de atenção à saúde do traba-lhador para o servidor público, pois nalógica da Saúde do Trabalhador, não seriaadequado criar serviços especializados (umpara o público, outro para o privado).
Entretanto, os centros de referência deatenção à saúde do trabalhador, além deinsuficientes, estão direcionados para asquestões dos trabalhadores regidos pelaCLT, limitando o conhecimento e asformas de intervenção no setor público.
Cabe ressaltar, no entanto, algumasiniciativas recentes, tais como o Decreto5.961/2006, da Presidência da República,que institui o “Sistema Integrado de SaúdeOcupacional do Servidor Público Federal”,bem como a Portaria 1.675/06, tambémdo governo federal, que institui o “Manualpara os Serviços de Saúde dos ServidoresCivis Federais”, que pretende “apresentarnormas e critérios para uniformização epadronização de condutas no âmbito doServiço Público Federal, no que se refereao serviço de saúde e perícia médica doservidor” (BRASIL, 2006). Um projetopiloto, seguindo essas orientações, está emfase de implantação em Brasília. Emboratrate apenas dos servidores públicos civisfederais, entendemos que tal legislaçãoaponta para uma tendência de mudança.Uma tendência, sem dúvida, ainda que bemdistante do que percebemos hoje emrelação às políticas hegemônicas de atençãoà saúde do servidor público.
É nesse contexto que chegamos à reali-dade do referido estado, onde as ações emsaúde do trabalhador para o setor públicoficam centralizadas no Centro de PeríciasMédicas. Assim, foi neste serviço que reali-zamos duas entrevistas, com um roteirode perguntas semi-abertas, no decorrer doano de 2004: uma individual, com ocoordenador do serviço; e outra em grupo,com a equipe de saúde mental, compostapor sete psicólogas, três psiquiatras e umaassistente social.3 Ao servidor público doreferido estado, resta justificar suas ausênciasou afastamentos no trabalho ao Depar-tamento de Perícia Médica e Saúde do

RSP
221
Tatiana Ramminger e Henrique Caetano Nardi
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 213-226 Abr/Jun 2007
Trabalhador que, apesar de ter integradorecentemente a “saúde do trabalhador” aoseu nome, segue com a atividade principalde “perícia”, ou seja, “com a principalfunção de ver se os funcionários estão aptospara o trabalho quando ingressam noserviço público, e também de homologaros atestados médicos e os exames de insa-lubridade” (médico do trabalho, coorde-nador do Departamento. O Departa-mento chegou a manter um Serviço deAtendimento à Saúde do TrabalhadorEstadual, oferecendo tratamento psicote-rápico, grupo terapêutico para portadoresde LER/DORT e acompanhamentoterapêutico, mas o serviço foi fechado naatual gestão para “uma reavaliação”.
O coordenador do Departamento dePerícia Médica e Saúde do Trabalhadorafirma, na entrevista, que não vê relaçãoentre o adoecimento e as atividades detrabalho4. Quando um trabalhador adoece“geralmente são problemas individuais quenão foram detectados nos exames deingresso, pois nem sempre a gente conseguever tudo, sempre deixa passar alguma coisa”.Frente à insistência na pergunta, o coorde-nador citou o caso de funcionários de umaagência de um banco do estado que sofreumuitos assaltos seguidos: “nesta agência ti-vemos muitos casos de estresse, logicamenterelacionados à seqüência de assaltos, mas éum caso isolado.” A coordenadora do ser-viço de saúde mental do departamentolembra que os maiores índices de adoeci-mento estão entre os trabalhadores dasegurança pública e da educação, mas,segundo ela, isso se deve ao número defuncionários de cada secretaria, pois “asecretaria de educação é a maior do estado”.
Para o coordenador, mais do que asatividades de trabalho, o que pode influirno adoecimento dos funcionários é a trocade governo, dizendo perceber claramente
o aumento ou diminuição no adoecimentodos servidores, conforme as mudanças degestão. Neste governo, por exemplo –refere ele – “a média de adoecimentosbaixou bastante, visto que é um governoconciliador, que trata bem os funcionários,sem perseguições políticas, sem ‘caça àsbruxas’”. No entanto, apesar da influênciaconstatada, ressaltou, ainda, que todos doseu setor eram “apolíticos”, e estão ali porsuas condições técnicas, citando a sipróprio como exemplo, pois apesar dacoordenação “ser um cargo político”, emseu caso prevaleceu a experiência de 30 anoscomo médico do trabalho, afirmando quenão tem tempo para as questões políticas,pois sua preocupação “é atender bem aosfuncionários”.
Em seguida, sugeriu que fossementrevistadas “as meninas da saúde mental”,já que o serviço de atendimento ao traba-lhador, que foi fechado, era subordinadoà equipe de saúde mental do departamentoNa entrevista realizada, estavam presentesapenas as psicólogas, que definiram que seu“método de trabalho varia de acordo coma designação da direção. Atualmente a gentetem trabalhado mais com avaliaçãodiagnóstica e homologação de licenças-saúde, não tanto com a promoção desaúde”.
Ao contrário do coordenador dodepartamento, a equipe de saúde mentalconsidera que nos adoecimentos dosservidores públicos, “há poucos casos quenão estão relacionados ao trabalho”.Ressaltam que sempre há um fator noadoecimento relacionado ao trabalho, atéporque o trabalho não pode ser desvin-culado da vida. Isso fica bem claro, sublinhaa equipe, nos processos de readaptação, nosquais a mudança do local de trabalhointerfere diretamente no agravamento oumelhora do quadro patológico do servidor.

RSP
222
Saúde do trabalhador: um (não) olhar sobre o servidor público
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 213-226 Abr/Jun 2007
Essa contradição, isto é, o contrasteentre o entendimento da coordenação dodepartamento e o do setor de saúde mental,é amenizada ao passo que uma delas argu-menta: “esse pensamento de algumas áreasda psicologia, de que o trabalho éadoecedor e o local de trabalho pode serum dos fatores de adoecimento, é uma coi-sa muito pouco discutida”. “A tendência ésempre individualizar os casos, e não levá-los para o coletivo”, relembra.
As psicólogas começam a relatar quehá uma clara divisão no setor, “entre umaperícia médica e uma saúde do traba-lhador”, enfatizando que “o trabalhodepende da gestão”. Pelo que colocam,atualmente, as diretrizes estão mais voltadaspara as atividades de perícia, sendo que suaprincipal atividade é a homologação ou nãode atestados médicos. “É claro que quandose atende alguém, mesmo que comatestado, vai se avaliar aquela pessoa, maso objetivo da avaliação, a finalidade, éhomologar ou não a licença”.
Sendo assim, quando a equipe desaúde mental identifica um adoecimento,no caso psicológico, “a gente sugere umtratamento”. Mas esse tratamento ésempre individual e em instituiçãoprivada, visto que o serviço que atendiaaos servidores foi fechado, e não hámenção ao Centro de Referência emSaúde do Trabalhador. Esse é um dosdilemas relatados pela equipe, poisentendem que os adoecimentos estãorelacionados ao trabalho, mas só podemfazer encaminhamentos individuais.
Aos poucos, a entrevista com as psicó-logas adquire um caráter de reflexão sobresuas próprias condições de trabalho,considerando a dificuldade de ser umaequipe com pouca margem de decisãosobre suas atividades, dependendo defrágeis e variáveis diretrizes: “até agora
foram dois grupos de saúde mental, aequipe fica improvisada”. Uma das psicó-logas, por exemplo, está realizando umapesquisa para a sua especialização, anali-sando os índices de estresse dos profis-sionais da Perícia. “Os resultados prelimi-nares são assustadores, mais da metade dostrabalhadores daqui já tem índices compa-tíveis com a síndrome de burnout”5.
Somam-se a esse resultado, a resistênciapara buscar ajuda em função do precon-ceito. É como se o trabalhador da saúde,entre os quais se incluem os própriosprofissionais da Perícia, não pudesseadoecer, sob pena de ter sua condição debom trabalhador questionada, comoconclui uma das entrevistadas: “o que euimagino, uma hipótese, é de que realmentenós, profissionais da saúde, trabalhandocom a saúde, a gente tem uma dificuldadede procurar auxílio, tem uma idéia que estámuito próxima da doença”.
Uma outra profissional fala de suadificuldade em buscar tratamento para simesma, ressaltando que teve uma granderesistência em procurar ajuda, questio-nando-se sobre “como é que vai serpsicólogo, se adoece?” É como se o sofri-mento e o adoecimento, sobretudopsíquico, fossem um sinal de fraqueza.
Se a equipe responsável pelas questõesligadas à saúde mental dos servidorespúblicos sofre com a falta de acolhimentoe as exigências de seu (en)cargo, tambémpercebem o mesmo em relação aos demaistrabalhadores de saúde do estado: “aspessoas da saúde demoram mais paraprocurar atendimento, lutam mais contra oadoecimento. Nos locais de trabalho aspessoas não são encaminhadas para atendi-mento, nem para a perícia. Então, quem vemé mais para apagar incêndio, às vezes já estásem nenhuma condição laboral, são casosmais graves”.

RSP
223
Tatiana Ramminger e Henrique Caetano Nardi
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 213-226 Abr/Jun 2007
Sendo assim, percebemos a extremavulnerabilidade das ações voltadas àatenção da saúde do servidor público que,definitivamente, não integram uma políticapública, mas ficam à mercê dos diferentesgovernos, sendo que os enunciados dasaúde do trabalhador parecem ter umafrágil penetração em uma área aindahegemônica da Medicina do Trabalho,considerando a legislação vigente, bemcomo as entrevistas realizadas com osprofissionais da Perícia Médica. Por outro
lado, o servidor público, como traba-lhador, não tem merecido investimento,apenas controle, em consonância com umlongo histórico de desvalorização de suaatividade. Os casos relatados e a reflexãodas servidoras da Perícia Médica, queatendem a outros trabalhadores e colegas,é um exemplo pungente da invisibilidadea que tem sido relegada a relação entresaúde e trabalho no setor público.
(Artigo recebido em fevereiro de 2007. Versãofinal em junho de 2007).
Notas
1 As entrevistas foram realizadas como parte da pesquisa para a Dissertação de MestradoTrabalhadores de saúde mental: reforma psiquiátrica, saúde do trabalhador e modos de subjetivação nosserviços de saúde mental. Defendida pela autora, em março de 2005, no Programa de Pós-Gradua-ção em Psicologia Social e Institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS),recentemente publicada pela Edunisc (RAMMINGER, 2006).
2 A Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) – deverá ser emitida pela empresa ou pelopróprio trabalhador, por seus dependentes, pela entidade sindical, pelo médico ou por autoridade(magistrados, membros do Ministério Público e dos serviços jurídicos da União, dos estados e doDistrito Federal e comandantes de unidades do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, do Corpo deBombeiros e da Polícia Militar), sempre que ocorrer um acidente de trabalho. Considera-se acidentede trabalho aquele ocorrido no exercício de atividades profissionais (típico) ou ocorrido no trajetocasa-trabalho-casa (de trajeto).
3 Por motivos éticos, o estado e o serviço em que a pesquisa foi realizada, bem como ossujeitos que dela participaram, não foram identificados.
4 Pergunta: Você acha que existe alguma relação entre o adoecimento dos trabalhadores e a suaatividade de trabalho? Qual?
5 A Síndrome de Burnout refere-se a um tipo de estresse diretamente relacionado ao trabalho,sobretudo aquele que envolve o contato direto e permanente com outras pessoas. Algumas de suascaracterísticas são a exaustão emocional, o sentimento de esgotamento afetivo, a falta de motivaçãopara o trabalho e o tratamento distante e “frio” dispensado à clientela.
Referências bibliográficas
BRASIL. Ministério da Saúde. I Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador. Relatório Final.Brasília: Ministério da Saúde, 1986.
. Ministério da Saúde. II Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador. RelatórioFinal. Brasília: Ministério da Saúde, 1994.

RSP
224
Saúde do trabalhador: um (não) olhar sobre o servidor público
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 213-226 Abr/Jun 2007
. Ministério da Saúde. Caderno de Saúde do Trabalhador. Brasília: Ministérioda Saúde, 2001.
. Ministério da Saúde. Governo implementa rede nacional para saúde notrabalho.Disponível em:< http://www.saude.gov.br>. Acesso em: 28 jan., 2004.
. Ministério da Saúde. Rede Nacional de Saúde do Trabalhador – RENAST.Diponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/trabalhador/renast.html>. Acesso em:17 mai., 2007.
. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de RecursosHumanos. Portaria no 1.675, de 06 de outubro de 2006: estabelece orientação para osprocedimentos operacionais a serem implementados na concessão de benefícios de quetrata a Lei 8.112/90 e Lei 8.527/97, que abrange processos de saúde, e da outrasprovidências. . Publicada no Diário Oficial da União em 10 out., 2006.CARNEIRO, S.A.M.. Saúde do trabalhador público: questão para a gestão de pessoas – aexperiência na Prefeitura de São Paulo. Revista do Serviço Público, vol. 57, n. 1, jan./mar.Brasília: ENAP, 2006, p. 23-49.DIAS, E.C.. Aspectos atuais da saúde do trabalhador no Brasil. In: Isto é trabalho de gente?:vida, doença e trabalho no Brasil ROCHA, L.E.; RIGOTTO, R.M.; BUSCHINELLI, J.T.P. (org.)..Petrópolis: Vozes, 1993.
. A atenção à saúde dos trabalhadores no setor saúde (SUS), no Brasil: realidade,fantasia ou utopia? Tese [Doutorado]. Campinas: Departamento de Medicina Social,Universidade Estadual de Campinas, 1994.FOUCAULT, M.. História da sexualidade I: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, 2001.LUZ, M.. Notas sobre as políticas de saúde no Brasil de “transição democrática” – anos 80. Physis:Revista de Saúde Coletiva, 1991.MINAYO-GOMEZ, C.; THEDIM-COSTA, S.M.F.. A construção do campo da saúde do trabalhador:percurso e dilemas. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 13, p. 21-32, 1997.NARDI, H.C.. Saúde, trabalho e discurso médico. São Leopoldo: Ed. Unisinos, 1999.RAMMINGER, T.. Trabalhadores de saúde mental: reforma psiquiátrica, saúde do trabalhador emodos de subjetivação nos serviços de saúde mental. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2006.ROCHA, L.E.. Os primórdios da industrialização e a reação dos trabalhadores: pré 30. In:Isto é trabalho de gente?: vida, doença e trabalho no Brasil. ROCHA, L.E.; ROCHA, R.M.;BUSCHINELLI, J.T.P. (org.). Petrópolis: Vozes, 1993a. p. 83-96.
. A intervenção do Estado nas relações de trabalho: 1930-1945. In: Isto étrabalho de gente?: vida, doença e trabalho no Brasil ROCHA, L.E.; RIGOTTO, R.M.;BUSCHINELLI, J.T.P. (org.). Petrópolis: Vozes, 1993b. p. 97-108.
. Tudo por um Brasil grande: 1945-1964. In: ROCHA, L.E.; RIGOTTO, R.M.;BUSCHINELLI, J.T.P. (orgs). Isto é trabalho de gente?: vida, doença e trabalho no Brasil.Petrópolis: Vozes; 1993c. p. 109-21.
. O milagre econômico e o ressurgimento do movimento social: 1964-1980. In: Isto é trabalho de gente?: vida, doença e trabalho no Brasil. ROCHA, L.E.; RIGOTTO,R.M.; BUSCHINELLI, J.T.P. (orgs). Petrópolis: Vozes, 1993d. p. 122-37.WEBER, M.. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. 11a ed. São Paulo: Pioneira, 1996[1904-05].

RSP
225
Tatiana Ramminger e Henrique Caetano Nardi
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 213-226 Abr/Jun 2007
Resumo – Resumen – Abstract
Saúde do trabalhador: um (não) olhar sobre o servidor públicoTatiana Ramminger e Henrique Caetano NardiO presente artigo pretende tecer algumas considerações a respeito dos discursos e práticas da área
da saúde do trabalhador em relação aos trabalhadores dos serviços públicos. Na primeira parte,demarca a construção do campo da Saúde do Trabalhador enquanto política pública no Brasil,identificando como as Conferências Nacionais de Saúde do Trabalhador trataram o tema da saúde doservidor público. Em seguida, analisa entrevistas realizadas com profissionais da Perícia Médica deum estado brasileiro. Ao final, conclui que ações voltadas à atenção da saúde do servidor público nãointegram uma política pública, mas ficam à mercê dos diferentes governos, sendo que os enunciadossobre a saúde do trabalhador têm uma frágil penetração em um campo ainda hegemônico damedicina do trabalho. A saúde do servidor público não tem merecido investimento, apenas controle,em consonância com um longo histórico de desvalorização do setor público.
Palavras-chave: saúde do trabalhador; servidor público; medicina do trabalho
Salud del trabajador: uno (no) mirar para al trabajador públicoTatiana Ramminger y Henrique Caetano NardiEl actual artículo se prepone tejer algunas consideraciones con respecto a los discursos prácticos
y del campo de la salud del trabajador en lo referente a los trabajadores de los servicios publicos.Empezamos la demarcación de la construcción del campo de la salud del trabajador como políticaspúblicas en el Brasil, identificando como las conferencias nacionales de la salud del trabajador sehabían ocupado del tema de la salud del servidor público. Después de eso, analizamos las entrevistasllevadas a cabo con los profesionales de la peritación médica de un estado brasileño. Concluimos quelas acciones dirigidas a la atención de la salud del servidor público no integran una política pública,pero están sometidas a los designios de los diversos gobiernos, y que las declaraciones de la salud deltrabajador tienen una débil influencia en un campo de la medicina del trabajo que tiene la hegemonía.El servidor público, como trabajador que es, no ha merecido la inversión debida sino el control, deacuerdo con una larga historia de depreciación del sector público.
Palabras-clave: Salud del trabajador; Servidor público; Medicina del trabajo
Worker’s health: a (absent) regard on the public sector workerTatiana Ramminger and Henrique Caetano NardiThis article presents a discussion on the discourses and practices concerning the health care
workers’ field in relation to the public sector’s workers. Initially we define the social construction ofthe worker’s health field in Brazil as a public policy by identifying how the National Workers’ HealthConferences treated the subject of the civil servants’ health. Following, we analyzed interviewsconducted with the staff responsible for the workers’ health department of a Brazilian state. Weconcluded that the programs directed to the health care of civil servants do not integrate a publicpolicy, and change at the will of each presidential administration; the central principles of the worker’shealth movement have a fragile penetration in the occupational medicine hegemonic field. The civilservant, as a worker, has not received the deserved attention, but only control, and this fact iscoherent with a long history of discredit of the public sector.
Keywords: Workers’ Health; Civil Servant; Occupational Medicine

RSP
226
Saúde do trabalhador: um (não) olhar sobre o servidor público
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 213-226 Abr/Jun 2007
Tatiana RammingerPsicóloga, especialista em Saúde e Trabalho (UFRGS), Mestre em Psicologia Social e Institucional (UFRGS).Atualmente realiza Doutorado, na Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (FIOCRUZ), com apoio doCNPq. Autora do livro Trabalhadores de saúde mental: reforma psiquiátrica, saúde do trabalhador e modos desubjetivação nos serviços de saúde mental, 2006. Contato: <[email protected]>.
Henrique Caetano NardiMédico Sanitarista e do Trabalho e Doutor em Sociologia. Atualmente realiza Pós- Doutorado no IRIS-EHESS(Paris-França), é Professor do Departamento e do Mestrado em Psicologia Social e Institucional na UFRGS, autordos livros Saúde, trabalho e discurso médico,1999; e Ética, trabalho e subjetividade, 2006. Contato: <[email protected]>.

RSP
227
Jacqueline Nunes; Rosivaldo de Lima Lucena e Orlando Gomes da Silva
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 227-243 Abr/Jun 2007
Vantagens e desvantagensdo pregão na gestão de
compras no setor público:o caso da Funasa – PB
Jacqueline Nunes; Rosivaldo de Lima Lucena eOrlando Gomes da Silva
Introdução
Para qualquer organização, o setor de compras se constitui como um dos
segmentos principais para o alcance dos objetivos a serem atingidos. É por meio
de uma aquisição de bens e serviços eficiente que uma organização conseguirá
atingir seus fins com menos dispêndio de recursos financeiros, tendo por outro
lado a satisfação dos seus stakeholders.
O sistema de compras apresenta muitas diferenças quando se compara o
setor público às empresas privadas. Em um sistema de mercado, dada a
competição entre as firmas, as organizações privadas precisam de um setor de
compras eficiente para o cumprimento da meta de maximização dos lucros.
Para o alcance dessa meta, são lançadas estratégias que entrelaçam parcerias,
fidelização de clientes e relacionamentos de longo prazo a fim de se obter o
crescimento constante dos lucros.
Em organizações públicas, o foco é a transparência das relações e o emprego
dos recursos para a satisfação da sociedade. Assim, percebe-se que na
governabilidade do País deverão ser preservados valores que garantam a eficiência

RSP
228
Vantagens e desvantagens do pregão na gestão de compras no setor público: o caso da Funasa/PB
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 227-243 Abr/Jun 2007
e a eficácia na utilização dos bens públicosda sociedade. Para isso, a administraçãopública vê-se obrigada a utilizar-se de umalto grau de formalismo nas suas relaçõespara aquisições de bens e contratações deserviços.
Diante da necessidade por envolvi-mento abrangente com todos os aspectosrelevantes do nosso País, a compreensão dascompras realizadas por órgãos do governose revela de grande importância para oscidadãos brasileiros. Em geral, tais aquisiçõessão as concretizações de planejamentosanuais que visam à satisfação das necessi-dades da sociedade brasileira.
Com a finalidade de regulamentar oassunto, a Constituição Federal de 1988,em seu artigo 37, inciso XXI, estabeleceque a administração pública direta e indi-reta de qualquer dos poderes da União,dos estados e dos municípios deveráadquirir bens e serviços mediante processode licitação pública que assegure igualdadede condições a todos os concorrentes.Assim, a administração pública busca omenor custo e o maior benefício por meioda proposta mais vantajosa, apresentadapor procedimentos estabelecidos nalicitação para o contrato de seu interesse.
Para aquisição de bens e serviçoscomuns, a União, os estados, o DistritoFederal e os municípios utilizam-sedo pregão, que é uma modalidade delicitação válida para quaisquer limites devalor em que a disputa é feita por meiode propostas e lances em sessão pública.O pregão eletrônico, por sua vez, possui asmesmas premissas da modalidade pregão(presencial), deste diferenciando-se porutilizar recursos de tecnologia da infor-mação. Dessa forma, como objetivo, esteartigo se propôs a avaliar quais as vantagense desvantagens do pregão eletrônico emrelação ao pregão presencial para aquisição
de bens/serviços na gestão pública desaúde. Para isso, foi estudado o caso daFundação Nacional de Saúde da Paraíba(FUNASA/PB). A Fundação, órgãoexecutivo do Ministério da Saúde, é umadas instituições do governo federal respon-sável em promover a inclusão social pormeio de ações de saneamento, sendotambém responsável pela promoção eproteção à saúde dos povos indígenas.
O artigo está dividido em oito seçõesalém desta introdução. Na seção 2, A funçãocompras e o instrumento licitação, descrevem-seos principais pontos referentes ao processode compras via licitação no setor público;na seção 3, O pregão, são destacadas ascaracterísticas da modalidade de licitaçãopregão, com ênfase nos principais pontosda prática de pregão presencial; na seção 4,O pregão eletrônico, destaca-se o conteúdo maisrelevante da prática do pregão eletrônico;na seção 5, são apresentados as caracterís-ticas do pregão na FUNASA/PB bemcomo a análise e interpretação dos resultadosda pesquisa; na seção 6, é feita uma compa-ração entre os métodos de compra: pregãopresencial e eletrônico; na seção 7, destaca-se a reflexão resultante da comparação entreo pregão presencial e o eletrônico. Final-mente, na última seção, são feitas as consi-derações finais quanto à pesquisa e parti-cularmente à parte divulgada nesse artigo.
A função compras no setorpúblico e o instrumento licitação
“A função compras é um seguimentoessencial do Departamento de Materiais ouSuprimento, que tem por finalidade suprir asnecessidades de materiais ou serviços.”(DIAS,1995, p. 259). Dessa forma, sua atividadeconsiste no suprimento de bens ou serviçosnecessários às atividades da organizaçãopor meio do planejamento quantitativo,

RSP
229
Jacqueline Nunes; Rosivaldo de Lima Lucena e Orlando Gomes da Silva
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 227-243 Abr/Jun 2007
satisfazendo-as no momento correto earmazenando-as de maneira adequada.
“As compras, como uma funçãoadministrativa, têm a responsabilidade departicipar do planejamento e das previsõesde sua empresa”. (HEINRITZ; FARRELL,1972, p.252). Assim, o bom planejamento,o controle e a execução das compras parauma organização são indispensáveis aodesenvolvimento das atividades que acompõem, pois mantêm os custosconforme o previsto. Nesse processo, oinstrumento licitação é obrigatório para aorganização pública, salvo disposiçõesexpressas em lei.
A licitação é substanciada por procedi-mentos administrativos que se relacionamentre o público e os interessados por meiode condições anteriormente acordadas,dentre as quais será selecionada a maisconveniente para a celebração de contrato.(DI PIETRO, 2004).
A Lei no 8.666/1993 obriga a aplicaçãode licitação para contratos de obras, serviços(inclusive de publicidade), compras, aliena-ções, concessões, permissões e locações daadministração pública quando contratadoscom terceiros, ressalvados casos previstos nalei. (art. 2o). Já as empresas estatais quepossuem personalidade jurídica de direitoprivado1 possuem regulamentos próprios,mas ficam sujeitas às disposições gerais da leide licitações. (Art. 119). Assim, segundoMeirelles, “justifica-se essa diversidade detratamento porque as pessoas jurídicas dedireito público estão submetidas a normasde operatividade mais rígidas que as pessoasjurídicas de direito privado, que colaboramcom o poder público” (2003, p. 269). Tem-se, ainda, o Decreto no 5.504/2005, queprevê a obrigatoriedade da realização delicitação pública para entidades não inte-grantes da administração pública, inclusive asOS e as OSCIP2, quando envolvam recursos
públicos diretamente repassados pela União.Neste caso, para bens e serviços comuns, éobrigatória a modalidade pregão, sendopreferencial sua forma eletrônica. (Decretono 5.504/05, art 1o, § 1o).
De acordo com a Lei no 8.666/1993,artigo 22, existem cinco modalidadesclássicas de licitação: concorrência, tomadade preços, convite, concurso e leilão.A figura 1 apresenta cada uma delas comsuas respectivas características.
Segundo GUSMÃO (2004), asmodalidades de licitação possuemcaracterísticas próprias que as distinguemumas das outras, sendo cada qualapropriada a determinados tipos decontratação. Analisado o objeto decontratação, seguirá a escolha da modali-dade mais apropriada para a efetivacontratação de acordo com parâmetrosestabelecidos na lei.
“Na governabilidadedo País deverão serpreservados valoresque garantam aeficiência e a eficáciana utilização dosbens públicos dasociedade”.

RSP
230
Vantagens e desvantagens do pregão na gestão de compras no setor público: o caso da Funasa/PB
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 227-243 Abr/Jun 2007
Com a finalidade inicial de ser utilizadaexclusivamente pela União, foi criadorecentemente o pregão, uma nova moda-lidade de licitação, posteriormente disci-plinada pela Lei no 10.520, de 17 de junho2002. É com essa modalidade que seocupa a próxima seção deste artigo.
O pregão: nova modalidade delicitação
Assim como as outras modalidades delicitação, o pregão se desenvolve por meio
de vários atos da administração e dos lici-tantes, todos eles instituídos no processorespectivo. Compreende duas etapas, aprimeira delas é a fase interna ou de prepa-ração, e a seguinte, a fase externa. A faseinterna do pregão, também chamada defase preparatória pelo art.3o da Leino 10.520, desenvolve-se no âmbito internodo órgão ou da entidade responsável pelacompra dos bens ou serviços desejados.Essa fase inicia-se com o ato da autoridadecompetente pelo qual justifica a necessidadeda contratação, definindo seu objeto, as
Figura 1: Modalidades clássicas de licitação
Fonte: Lei 8.666/93, artigo 22 (BRASIL, 1993)
ConcorrênciaModalidade de licitaçãoentre quaisquer interes-sados que, na fase inicialde habilitação preliminar,comprovem possuir osrequisitos mínimos dequalificação exigidos noedital para execução deseu objeto.
Tomada de preçosOcorre entre interessadosdevidamente cadastradosou que atenderem a todasas condições exigidas paracadastramento até oterceiro dia anterior à datado recebimento daspropostas, observada anecessária qualificação.
ConcursoEntre quaisquer interessadospara escolha de trabalhotécnico, científico ouartístico, mediante a insti-tuição de prêmios ouremuneração aos vence-dores, conforme critériosconstantes de edital publi-cado na imprensa oficialcom antecedência mínimade 45 dias.
ConvitePara interessados do ramopertinente ao seu objeto, cadas-trados ou não, escolhidos econvidados em número mínimode 3 pela unidade administrativa,a qual afixará, em local apro-priado, cópia do instrumentoconvocatório e o estenderá aosdemais cadastrados na corres-pondente especialidade quemanifestarem seu interesse comantecedência de até 24 horas daapresentação das propostas.
LeilãoModalidade de licitaçãoentre quaisquer interessadospara a venda de bens móveisinservíveis para a adminis-tração ou de produtoslegalmente apreendidosou penhorados, ou para aalienação de bens imóveisprevista no art. 19, a quemoferecer o maior lance,igual ou superior ao valorda avaliação.

RSP
231
Jacqueline Nunes; Rosivaldo de Lima Lucena e Orlando Gomes da Silva
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 227-243 Abr/Jun 2007
regras de habilitação, os critérios daspropostas a serem aceitas, as sanções porinadimplemento e as cláusulas do contrato.(MEIRELLES, 2003).
A fase externa do pregão inicia-se coma convocação dos interessados. Nessa fase,encontra-se a maior vantagem do pregãoem relação às outras modalidades delicitação, uma vez que estabelece a habili-tação, ao final, apenas do licitante queofertou o menor preço. Caso o licitanteda oferta de menor preço não apresenteos documentos conforme exigido noedital, será avaliada a proposta do segundoclassificado e dos demais em ordemcrescente. “Supri-se, assim, tempo preciosodespendido no exame da documentaçãodos concorrentes que foram eliminados nojulgamento das propostas” (MEIRELLES,2003, p. 316).
Para essa modalidade, o tipo delicitação é sempre o de menor preço,observados ainda conforme o Decreto3.555/2000, art. 8o, “os prazos máximospara fornecimento, as especificaçõestécnicas e os parâmetro mínimos dedesempenho e de qualidade e as demaiscondições definidas no edital.” Assim, aspropostas escritas são dispostas em ordemdecrescente de preços ofertados, sendoposteriormente oferecida a chance das
melhores propostas abrirem os lances atéo alcance do menor preço. Assim, ressaltaNiebuhr: “No pregão, os licitantes maisbem classificados dispõem de umasegunda oportunidade, em que, de formaoral, podem reduzir os seus preços” (2004,p. 21). Vê-se que essa característica confereao pregão a similaridade de um leilão àsavessas, uma vez que são ofertados lancesde forma oral e em voz alta até o alcancede proposta de menor preço.
De acordo com Gusmão (2004), aspeculiaridades do pregão, destacadas nafigura 2, são importantes porque instituíramuma modalidade de licitação com procedi-mento mais simplificado. Assim, vemos aimportância da aplicabilidade do pregão àaquisição de bens e serviços comuns, umavez que por outra modalidade demandariamais tempo e maior custo.
O pregão eletrônico
O pregão como nova modalidade delicitação, foi instituído por meio da MedidaProvisória no 2.026, de 04 de maio de 2000,e regulamentado pelo Decreto no 3.555,de 08 de agosto de 2000. Anteriormente,a Medida Provisória no 2.026/2000 instituíao pregão apenas no âmbito da União,conforme artigo 1o “para aquisição de bens
Figura 2: Peculiaridades do pregão
Fonte: Niebuhr, 2004 e Gusmão, 2004. Com adaptações.
• Aquisição de bens e serviços comuns: objetos simples, que não demandam especificações técnicas complexas.
• Apenas o fator preço é levado em consideração.
• Inversão das fases de licitação: habilitação depois das propostas julgadas.
• Há oportunidade para os licitantes melhor classificados reduzirem os seus preços.

RSP
232
Vantagens e desvantagens do pregão na gestão de compras no setor público: o caso da Funasa/PB
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 227-243 Abr/Jun 2007
e serviços comuns, a União poderá adotarlicitação na modalidade pregão.”Posteriormente, a Lei 10.520, de 17 dejulho 2002, estendeu a aplicação damodalidade pregão também aos estadose municípios.
A partir do Decreto no 5.450, de 31de maio de 2005, foi regulamentada amodalidade pregão, na forma eletrônica,de acordo com o dispositivo do art. 2o daLei no 10.520, destinada à aquisição de bense contratação de serviços comuns.
O pregão eletrônico é a modalidadede licitação em que recursos de tecnologiade informação são utilizados para comprade bens e contratação de serviços comuns.Segundo Niebuhr, “em apertadíssimasíntese, o pregão eletrônico é o modo derealizar a modalidade pregão, valendo-seda Internet” (2004, p. 226).
A particularidade desse meio de reali-zação de compras incide na ausência físicade quaisquer interessados ou documentos,já que os mesmos estão presentes viasistema eletrônico. Para a garantia da segu-rança do processo, temos a presença derecursos de criptografia e autenticação, queajudarão na condução do sistemaeletrônico. (Decreto no 5.450, art. 2o, § 3o).
As atribuições da autoridade compe-tente do órgão que promoverá o pregãoeletrônico3 serão as mesmas do pregãocomum, acrescentando-se apenas, aresponsabilidade de indicar o provedor dosistema, “evitando que tal procedimentoseja efetivado por outrem, mesmo queagente público”. (GUSMÃO, 2004, p. 73).
Gusmão (2004) explica que, aopregoeiro caberão as mesmas responsa-bilidades atribuídas com a operação dopregão comum, deste se diferenciandopor apresentar facilidades advindas doapoio do sistema de tecnologia. Para esseponto, o autor declara:
Note-se que, nesse tocante oprograma poderá em muito auxiliar eaté aliviar o trabalho do pregoeiro,constando de sua rotina a exclusãoautomática de lances fora dascondições de adminissibilidade daadministração, como é o caso de lancesiguais ou de valor reduzido, bem comorecebendo ofertas e documentado-as,além de enviar mensagem ao licitanteconfirmando a operação (2004, p. 76)
Assim, percebe-se que existe umavantagem do pregão eletrônico em compa-ração ao pregão comum, uma vez que háuma simplificação das atividades dopregoeiro já que o sistema recebe e ordenaos lances automaticamente.
De acordo com o artigo 4o, do Decretono 5.450, a modalidade pregão eletrônicoserá preferencial quando da aquisição debens e serviços comuns realizada emdecorrência de transferências voluntárias derecursos públicos da União. Aos outroscasos de aquisição de bens ou contrataçãode serviços, deverão ser adotadas as outrasmodalidades ou, ainda, o pregão comum.
Características do pregão naFUNASA/PB
A FUNASA/PB é uma instituição dogoverno federal, órgão executivo doMinistério da Saúde, responsável empromover a inclusão social por meio deações de saneamento e promoção eproteção à saúde dos povos indígenas. Poresse motivo, a gestão de compras é funda-mental na coordenação entre o montantede recursos e a extrema carência do campo.
Para alcançar uma descrição dascaracterísticas da modalidade de licitaçãopregão na FUNASA/PB, nas formaseletrônica e presencial, aplicaram-se as

RSP
233
Jacqueline Nunes; Rosivaldo de Lima Lucena e Orlando Gomes da Silva
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 227-243 Abr/Jun 2007
seguintes técnicas de pesquisa: questionáriocomposto de 35 questões, abertas efechadas, entrevista e observação direta.O instrumento de coleta de dados foi apli-cado entre os diferentes trabalhadores queinteragem de alguma forma com o sistemade pregão na FUNASA/PB: agentesadministrativos, assistentes administrativose procurador federal. Os dados obtidosforam sujeitados a dois tipos de tratamento:qualitativo e quantitativo, concomitan-temente. Tratou-se de um estudo explo-ratório para levantar questões a serem maisprofundamente avaliadas.
Neste artigo divulgam-se alguns dospontos considerados mais relevantes apósa análise dos dados, ou seja, os que resul-taram das questões referentes a: vantagense desvantagens competitivas dos métodosde compras: pregão presencial e eletrônico;vantagens para o pregoeiro com o pregãoeletrônico; disponibilidade de recursoshábeis para atendimento das despesasreferentes ao planejamento anual daFUNASA/PB; economia de preço nosbens/serviços adquiridos por meio dopregão eletrônico, se comparada à dopregão presencial; economia de recursoscom a introdução do pregão eletrônico erepasse de recursos para outras necessi-dades da FUNASA/PB; prazos defornecimento dos bens/serviços adqui-ridos por meio do pregão presencial emcomparação ao eletrônico, e treinamentoe capacitação do pregoeiro e equipe.
Análise e interpretação dosresultados
O pregoeiro e a equipe de apoio em exercíciopossuem treinamento e capacitação constantes(anual/semestral) para o exercício de suas funções?
Com relação à questão, 60% dosentrevistados responderam “raramente”,
20%, “às vezes” e os outros 20% afirmaramque sempre o pregoeiro e a equipe de apoiopossuem treinamento e capacitação para oexercício de suas funções.
De acordo com Decreto 3.555/2000,em seu art.7o, “somente poderá atuarcomo pregoeiro o servidor que tenharealizado capacitação específica paraexercer a atribuição”, em nada se referindoquanto à periodicidade de treinamentos ecapacitação do pregoeiro e da equipe de
apoio. Por outro lado, embora o citadodecreto não se refira a freqüência de cursospara os envolvidos diretamente nacondução do pregão, percebemos que arara existência de treinamento e capacitaçãopoderá abrir margens a falhas no desenvol-vimento das etapas da licitação. Issoporque a reciclagem dos servidores arespeito da lei de licitações, bem como osprocedimentos necessários a realização do
“Percebe-seuma vantagem dopregão eletrônicoem relação aocomum, uma vezque há simplificaçãodas atividades dopregoeiro, já queo sistema recebe eordena os lancesautomaticamente.”

RSP
234
Vantagens e desvantagens do pregão na gestão de compras no setor público: o caso da Funasa/PB
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 227-243 Abr/Jun 2007
pregão presencial e eletrônico, constitui-secomo fator de importância a ser consi-derado pelos servidores para o exercíciodas suas funções.
Você acha que o material adquirido atende oórgão por tempo suficiente até uma nova aquisição?
Houve uma predominância dasopiniões com relação “às vezes” que omaterial comprado atende o temposuficiente até uma nova compra.Conforme observado na fundação, essefator se deve a dois motivos: primeiro, aexemplo do exercício 2006, o orçamentoda União por vezes demora a ser votadoe, conseqüentemente, o repasse dosrecursos não atende em tempo às neces-sidades da administração pública; outrasvezes, no caso interno da fundação, háum descompasso entre a real necessidadee aquilo que se comprou efetivamente,levando tanto ao excesso quanto à faltade material. Esse motivo é conseqüênciade um planejamento inadequado emconsideração às necessidades internas daFUNASA/PB.
Em média, qual o percentual de utilizaçãodos métodos pregão eletrônico e pregão presencialna Fundação Nacional de Saúde, da Paraíba?
Obteve-se como média das respostaso percentual de 92% para a utilização dosmétodos pregão eletrônico e presencial naFUNASA/PB. Esse fator se deve à maioraquisição de bens e serviços comuns paraatendimento das necessidades da fundação,adotando, dessa forma, o pregão comomodalidade de licitação. Encontramos,também, obras e serviços realizados, emgeral, por meio da modalidade tomada depreços, conforme limites de valor estabe-lecido na lei, que, por vezes, visa atendercomunidades indígenas beneficiadaspela fundação.
Em geral, existe economia de preço comrelação aos bens/serviços adquiridos por meio dopregão eletrônico quando comparado ao pregãopresencial?
Houve predominância das opiniõesque afirmaram existir economia de preço.Esse fator, conforme constatado, deve-sea um maior número de concorrentes que,por vezes, contribui para obtenção demenor preço para itens comprados para aFUNASA/PB. Dessa forma, percebemosa importância das compras realizadas commaior eficácia, pois assim há a possibili-dade do uso de recursos remanescentespara outras atividades, trazendo benefíciosconsideráveis para a fundação.
Qual é, para você, a principal vantagem dopregão eletrônico em relação ao pregão presencial?
Do total, 67% dos entrevistadosresponderam “maior número de licitantes”,22% “quebra de barreiras físicas entrepregoeiro e licitantes”, e os outros 11%afirmaram ser o desconto nos preços dositens cotados a principal vantagem dopregão eletrônico em comparação aopregão comum. Assim, mais uma vez, opregão eletrônico na FUNASA/PB trouxemaior número de concorrentes, em virtudede propiciar encurtamento das distânciasaos possíveis interessados, auferindo, entreoutras vantagens, obtenção de maioresdescontos para os itens licitados.
Qual é, para você, a principal desvantagemdo pregão eletrônico em relação ao pregão presencial?
Como resposta, 56% dos entrevistadosresponderam “restrição de fornecedores queainda não se utilizam da Internet”, 33%,“compra errada de bens/serviços”, e osoutros 11% afirmaram ser a demora paraentrega dos documentos originais a principaldesvantagem do pregão eletrônico emrelação ao pregão presencial. Conforme

RSP
235
Jacqueline Nunes; Rosivaldo de Lima Lucena e Orlando Gomes da Silva
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 227-243 Abr/Jun 2007
observado, durante o período de pesquisa, arestrição de fornecedores que ainda não seutilizam da Internet é verificada na necessi-dade de realização de pregão presencial emcidadezinhas localizadas no interior do estado.Tal fator se revela como custo de oportu-nidade, uma vez que há necessidade dedeslocamento de servidor para o municípioem que se pretende realizar a licitação.
Para você, qual a principal vantagem para opregoeiro com o pregão eletrônico?
Dos entrevistados, 55% responderam“agilidade/simplificação na licitação emque há vários itens”, 22%, “exercício dosdeveres em ambiente menos tumultuado(ou mais tranqüilo)”, e os outros 22%afirmaram ser a simplificação dos deveresa principal vantagem para o pregoeirocom o pregão eletrônico, uma vez que osistema recebe e ordena os lances. Dessaforma, percebemos que o pregão eletrô-nico propiciou para os servidoresdiretamente envolvidos no certame, umaredução do tempo gasto nas licitações emque há vários itens, simplificando tambémas disputas por lances, já que estes sãorecebidos e ordenados pelo sistemaeletrônico. Por outro lado, devemosressaltar que, com o pregão presencial opregoeiro é sobrecarregado, já que ele éo condutor direto das etapas do certame,sendo responsável pelo recebimento dosenvelopes, classificação dos licitantes,procedimento dos lances verbais, entreoutros procedimentos, que por vezestomam muito tempo até que seja finali-zado todo o processo.
Na sua opinião, quais as situações em que épreferível a utilização do pregão eletrônico em lugardo pregão presencial?
Houve uma predominância dalicitação em que há vários itens, a
exemplo de material de expediente, comosituações em que é preferível a utilizaçãodo pregão eletrônico em lugar do pregãopresencial. Encontramos, também, aassertiva de que em nenhuma situação opregão comum é preferível em lugar doeletrônico, exceto quando existemsituações em que os concorrentes não seutilizam da Internet para licitações. Dessaforma, enxergamos que a agilidade dosistema eletrônico em licitações comvários itens contribui para umaamenização das tarefas atribuídas àspessoas envolvidas na condução dopregão eletrônico na FUNASA/PB.
Assim, percebemos que servidores,direta ou indiretamente, envolvidos como pregão eletrônico concordam ser essamodalidade o melhor instrumento paraaquisição de bens/serviços. Ressalta-se que,durante o período de realização dapesquisa, foi observada a facilidade deprocedimento da licitação quando reali-zada por meio do pregão eletrônico. Issose deve, entre outros fatores, à ausência delances verbais, que por vezes tornava oprocedimento lento e complicado.
O pregão eletrônico está possibilitando economiade recursos e possibilitando repasse desses paramelhoria das diferentes necessidades presentes naFUNASA/PB?
Houve predominância de sempre havereconomia de recursos e possibilidade dorepasse desses para melhoria dasnecessidades presentes na FUNASA/ PB,mediante utilização do pregão eletrônico.Assim, a escassez de recursos disponíveispara bens/serviços considerados não tãoimportantes, delegados ao próximoexercício financeiro, foi parcialmente resol-vida em fase da utilização de recursosprovenientes da economia adquirida coma utilização do pregão eletrônico.

RSP
236
Vantagens e desvantagens do pregão na gestão de compras no setor público: o caso da Funasa/PB
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 227-243 Abr/Jun 2007
Existe ou já existiu compra errada de bens/serviços por meio da modalidade pregão eletrônico?
Para 57% dos entrevistados, “àsvezes”; 29%, “raramente”, e os outros14% afirmaram que nunca existiu compraer rada de bens/serviços por meioda modalidade pregão eletrônico.A existência de compra errada de bens/serviços por meio da modalidade pregãose deve a dois fatores. Primeiramente,devido ao próprio caráter do pregãoeletrônico,que não permite contato oralentre o pregoeiro e os licitantes paraesclarecimentos que venham a ocorrer.Por outro lado, no caso interno daFUNASA/PB, temos que muitas vezes areal necessidade dos setores/divisões nãoé corretamente identificada, fator advindode um planejamento inadequado que nãovisualiza as reais necessidades da referidafundação.
Qual é, pra você, a principal vantagem dopregão presencial em lugar do pregão eletrônico?
Do total, 56% dos entrevistadosresponderam “possibilidade de exigiramostras dos produtos dos licitantes”; 33%,“contato oral na fase de negociação”, e osoutros 11% afirmaram ser a representaçãode pequenos comerciantes, destituídos dosistema eletrônico (comprasnet). SegundoNiebuhr (2004), a exigência de amostras nãodeve ser regra, mas exceção a casos devida-mente justificados. Ademais, a modalidadepregão, por se destinar à contratação de bense serviços comuns, que não exigem análisedetalhada, chega a ponto de requereramostras. Assim, no caso da FUNASA/PB,considera-se relevante a exigência deamostra para licitações em que para aaquisição de bens/serviços seja importanteconferir a qualidade e, conseqüente, aadequação do objeto licitado às necessidadesadministrativas.
Na sua opinião, quais as situações em que épreferível a utilização do pregão presencial em lugardo pregão eletrônico?
Obtivemos como predominância dasrespostas ser preferível a utilização dopregão presencial em lugar do eletrônicoquando o bem/serviço a ser licitado forfornecido em outra cidade que não sejaJoão Pessoa. Conforme observado naFUNASA/PB, existem licitações que, aexemplo do fornecimento de combus-tíveis, o serviço a ser prestado dá-se emcidades do interior da Paraíba. Dessaforma, o pregão presencial com desloca-mento do pregoeiro e equipe de apoio éo mais adequado, senão a única alterna-tiva, já que, na maioria dos casos, os licitantesainda não se utilizam da tecnologia deinformação para venda de seus bens ouserviços.
Em sua opinião, qual a principal desvantagemdo pregão presencial com relação ao pregãoeletrônico?
Houve predomínio da restrição donúmero de participantes ser a principaldesvantagem do pregão presencial comrelação ao pregão eletrônico. No caso daFUNASA/PB, em licitações realizadas pormeio da modalidade pregão presencial, arestrição de fornecedores se reflete nadelimitação de bens/serviços ofertados etambém no aumento de preços, ou totalutilização do estimativo empenhado.
Os bens/serviços adquiridos pelo pregãopresencial superam favoravelmente os prazos defornecimento quando relacionados com o pregãoeletrônico?
Para 25% dos respondentes “sempre”,e os outros 75% afirmaram que às vezesos bens/serviços adquiridos pelo pregãopresencial superam favoravelmenteos prazos de fornecimento quando

RSP
237
Jacqueline Nunes; Rosivaldo de Lima Lucena e Orlando Gomes da Silva
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 227-243 Abr/Jun 2007
relacionados com o pregão eletrônico.Com a introdução do pregão eletrônico,vencedores localizados em regiões maisdistantes atrasam o fornecimento.Entretanto, no caso da FUNASA/PB, essenão se revelou fator dominante na maioriadas situações quando comparado aopregão presencial. A razão é simples:mesmo em tal modalidade, geralmentevencida por fornecedor local, verificam-se atrasos no fornecimento. Nesta moda-lidade, embora na maioria das vezesapresente como vencedor, fornecedorlocal, este também incide no descum-primento do prazo estabelecido parafornecimento.
A incidência de itens não cotados no pregãopresencial em comparação ao pregão eletrônico é:
Afirmaram “menor” 14,4%; “igual”42,8%, e 42,8% responderam ser “maior”a incidência de itens não cotados no pregãopresencial em comparação ao pregãoeletrônico. Quando maior a incidência deitens não cotados no pregão presencial,observamos a restrição do número delicitantes. Por outro lado, a igualdade daincidência de itens não cotados, tanto como presencial quanto com o eletrônico, deve-se a especificidade ou escassez do bem ouserviço em dado momento no mercado,bem como a inconveniência da descriçãode dado objeto no edital que, por vezesdetalhada, torna inexistente a oferta de talbem ou serviço a ser oferecido pelosinteressados.
Dado o exposto, percebemos que aadoção da modalidade de licitação pregãoeletrônico trouxe uma melhoria signifi-cativa nas atividades relacionadas à compraou à aquisição de bens/serviços paraatendimento das necessidades daFUNASA/PB, pois possibilitou economiade recursos e agilizou o processo interno
de aquisição. Dessa forma, houve umbenefício para o público alvo (povosindígenas) da FUNASA/PB. Comoexemplo, podemos citar a compra devacina, realizada em valores superiores aR$ 8.00,00 (oito mil reais) – pois em casocontrário demanda dispensa de licitação –,que passou a ser realizada por meio dopregão eletrônico ao invés do presencial,otimizando recursos por meio de maispresença de licitantes e um posterior
repasse desses para o atendimento de aqui-sições, algumas vezes delegadas aopróximo exercício financeiro. Consta-tamos também que referida modalidade égeralmente empregada para compra debens/serviços de uso interno, ou seja,aqueles considerados comuns, que podemser descritos objetivamente por meio deespecificações usuais de mercado. Assim,a aquisição de bens, a exemplo de material
“A raraexistência detreinamento ecapacitaçãopoderá abrirmargens a falhasno desenvolvimentodas etapasda licitação”.

RSP
238
Vantagens e desvantagens do pregão na gestão de compras no setor público: o caso da Funasa/PB
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 227-243 Abr/Jun 2007
de expediente e aparelhos eletro/eletrô-nicos, bem como de serviços referentes acontrato de limpeza ou de vigilância, foramcontempladas por meio da introdução dopregão eletrônico. Por outro lado, paraserviços mais complexos, a exemplo decontrato de obras para construção depoços que beneficiam diretamente aopúblico alvo da FUNASA/PB, conti-nuaram a ser utilizadas outras modalidadesde licitação, tais como tomada de preços.
Comparação entre os métodosde compra: pregão presencial eeletrônico
Cada um dos métodos descritosobjetiva adequar a administração públicaaos preceitos da Lei Federal no 8.666, queestabelece normas gerais sobre licitaçõese contratos administrativos, oferecendosuporte ao funcionamento eficiente eperfeitamente regulamentado da compraou da aquisição de bens e serviços.(art. 1o). Embora apresentem o mesmoprincípio, os métodos de compra pregãopresencial e eletrônico se distinguem namaneira como resultam vantagens edesvantagens para o órgão publico emque são utilizados. Torna-se, portanto,relevante considerar as principais parti-cularidades de cada um desses métodosno que se refere ao alcance de resultadospara a FUNASA/PB.
Para o método de compra pregãocomum, obtivemos como vantagemprincipal, em relação ao eletrônico, a possi-bilidade de exigência de amostras deprodutos dos licitantes. Esse fator foiconsiderado importante para conferênciade qualidade, uma vez que possibilita oexame do objeto a ser adquirido, possi-bilitando ainda o contato oral paraesclarecimento de quaisquer dúvidas. Por
outro lado, a principal desvantagemverificada foi a restrição do númerode participantes, já que nem todosos fornecedores se utilizam do meioeletrônico para venda de seus bens/serviços. Essa limitação trouxe comoconseqüência situações em que é prefe-rível, senão a única alternativa, a utilizaçãodo pregão comum à do pregãoeletrônico, a exemplo de licitações paraaquisições de bens/serviços comuns emcidades do interior do estado.
Por sua vez, o pregão eletrônicoapresentou como principal vantagem omaior número de licitantes, que foipropiciada pelo encurtamento das distânciasaos possíveis interessados. Segundo Niebuhr,“a principal vantagem dos recursos detecnologia de informação é a aproximaçãodas pessoas, o encurtamento das distâncias.”(2004, p. 229). Como principal desvan-tagem, a presença de fornecedores que aindanão se utilizam da Internet foi consideradarelevante; como exemplo, citamos aslicitações que são realizadas em regiões ondeos fornecedores, seja por desconhecimentoou falta de tecnologia adequada, não seservem de meios eletrônicos para venda deseus bens/serviços. Outra vantagemconstatada foi a economia de preço, quepossivelmente são repassados para atendi-mento de outras necessidades da fundação.Destaca-se, ainda, a vantagem para opregoeiro com a introdução do pregãoeletrônico, uma vez que os procedimentosadministrativos foram agilizados esimplificados, facilitando, principalmente,aquelas licitações em que vários itens sãocotados. Fatores como esses fizeramprevalecer a preferência do pregãoeletrônico ao comum, uma vez que paracompras de muitos bens/serviços, osistema eletrônico contribui simplificandoo processo administrativo.

RSP
239
Jacqueline Nunes; Rosivaldo de Lima Lucena e Orlando Gomes da Silva
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 227-243 Abr/Jun 2007
Pode-se, então, com base nas particula-ridades de cada método, estabeleceralgumas diferenças significativas. Por outrolado, verificamos que cada um deles, aseu modelo, é adequado a mesmasituação: aquisição de bens/serviçoscomuns. Apesar disso, não se conjugamquanto à combinação ou justaposição deseus procedimentos, uma vez que um érealizado com a presença de licitantes, eo outro, com total ausência dos seus inte-ressados.
Reflexão resultante da compa-ração entre os métodos de compra:pregão presencial e eletrônico.
A apreciação do presente estudopermite compreender como a aquisiçãode bens/serviços comuns pode trazerdiferentes benefícios à administraçãopública. Considerando que a Lei 8.666/1993 não admite combinação das moda-lidades de licitação, ainda que tenha comofinalidade o melhor atendimento aointeresse público, torna-se obrigatória aescolha de um único modelo para satis-fação das necessidades ora requeridas.
Conforme indica o cotejo ora reali-zado, o pregão eletrônico reúne todas ascaracterísticas que trazem maioresvantagens à administração pública. Essamodalidade, além de simplificar todo oprocedimento administrativo, alcançaíndices consideráveis de economia derecursos em virtude de poder alcançargrande parte do território nacional pormeio do uso da Internet. Assim, constata-se uma evolução no que se refere àcompra de bens/serviços comuns, que apartir da introdução do pregão eletrônicovem proporcionando cumprimento maismoderno e eficiente para utilização eficazdos recursos públicos.
À guisa de conclusão
A gestão de processos organizacionais éum entrelaçar permanente de fluxos deinformação orientados por conteúdosestruturais, sistêmicos e da própria culturainterna das organizações. No serviço público,onde fatores peculiares e distintos daquelesmais usualmente prescritos pelo managementcontam muito na análise de qualquer questão,a complexidade das ações gerenciais é aindamais aguçada. Principalmente, por essemotivo, um estudo preliminar como esteapenas mostra pontas de icebergs no hori-zonte. Qualquer necessidade de intervençãoem processos como o aqui descrito teminfinitamente mais fatores e informaçãoespecializada a considerar do que apenas essaspoucas considerações iniciais apresentadas.Contudo, cumprindo o papel de mostraralguns fatores para a investigação posterior,com mais propriedade, da sua constituiçãosubjacente, a pesquisa realizada leva a destacaralguns pontos.
Primeiro, cabe dizer que como pontosfortes na gestão de compras com a práticado pregão no órgão federal estudadodestacam-se: a economia de recursospropiciada pela utilização principalmentedo pregão eletrônico e o repasse dessesrecursos para melhorias de diferentesnecessidades da instituição; otimização doprocesso de aquisição de bens/serviços,permitindo um maior número de parti-cipantes e redução dos preços; agilidade/simplificação na licitação realizada pormeio do pregão eletrônico. Paralelamente,a presença de treinamento e capacitação,ainda não suficientemente observados,parece ser uma ameaça à eficácia dosistema vigente. Soma-se a esse fator oproblema de planejamento anual maldimensionado que se apresenta comouma outra deficiência a ser avaliada.

RSP
240
Vantagens e desvantagens do pregão na gestão de compras no setor público: o caso da Funasa/PB
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 227-243 Abr/Jun 2007
A partir dessas considerações, sugerem-se dois pontos a serem estudados: a elabo-ração e a implantação política de capacitaçãopara os servidores envolvidos na conduçãoda modalidade de licitação pregão; a análisede sistemas de auditoria do processo deplanejamento anual, visando à identificação
Notas
1 Sociedade de economia mista, empresas públicas e outras controladas direta e indiretamentepelo poder público
2 OS: Organizações Sociais; OSCIP: Organizações Sociais de Interesse Público3 O artigo 8o do Decreto no 5.450 dispõe sobre as atribuições da autoridade competente do
órgão que promoverá o pregão eletrônico.
Referências bibliográficas
ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito administrativo. Rio de Janeiro: Impetus,2006.AZEVEDO, Eurico de Andrade; ALENCAR, Maria Lucia Mazzei de. Concessão de ServiçosPúblicos – comentários às Leis 8.897 e 9074 (parte geral), com as modificações introduzidaspela Lei 9.648, de 27-5-98. São Paulo: Malheiros, 1998.BRASIL. Medida Provisória no 2.026-3, de 4 de maio de 2000. Institui no âmbito da União,nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitaçãodenominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns.
. Decreto no 3.555, de 8 de agosto de 2000 . Aprova o regulamento para amodalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns.
. Decreto no 5.450, de 31 de maio de 2005. Regulamenta o pregão, na formaeletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, e da outras providências.
. Decreto no 5.504, de 05 de agosto de 2005. Estabelece a exigência deutilização do pregão, preferencialmente na forma eletrônica, para entes públicos ouprivados nas contratações de bens e serviços comuns, realizadas em decorrência detransferências voluntárias de recursos públicos da União, decorrentes de convênios ouinstrumentos congêneres, ou consórcios públicos.
de mecanismos de ajuste do volumeestimado do fluxo de bens e serviços daFUNASA/PB para possibilitar ações decorreção em tempo hábil.
(Artigo recebido em janeiro de 2007. Versãofinal em junho de 2007)

RSP
241
Jacqueline Nunes; Rosivaldo de Lima Lucena e Orlando Gomes da Silva
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 227-243 Abr/Jun 2007
. Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002. Institui, no âmbito da União,Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art.37, inciso XXI da Consti-tuição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens eserviços comuns, e da outras providências.
. Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. Dispõe sobre Licitações e Contratosde Administração Publica. Regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal,institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e da outrasprovidências.BRITTO, Carlos Ayres. O perfil constitucional da licitação. Paraná: Znt, 1997.CAVALCANTE, Jacqueline Nunes. A aquisição de bens/serviços por meio de licitação na modalidadepregão presencial e eletrônico na Fundação Nacional de Saúde da Paraíba. João Pessoa: UFPB, 2006.DIAS, Marcos Aurélio P. Administração de materiais: uma abordagem logística. 4o ed. SãoPaulo: Atlas, 1995.DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 17o ed. São Paulo: Altas, 2004.FARIA, Edimur Ferreira de. Curso de direito administrativo positivo. 4o ed. Belo Horizonte: DelRey, 2001.GUSMÃO, Joseneide Helena de Castro. Pregão: nova modalidade de licitação. João Pessoa:UFPB, 2004.HEINRITZ, Stuart F.; FARRELL, Paul V. Compras: princípios e aplicações. São Paulo: Atlas,1972.JÚNIOR, Waldo Fazzio. Fundamentos do direito administrativo. 2o ed. São Paulo: Atlas, 2002.LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho científico. SãoPaulo: Atlas, 1996.LIMA, Marília Coelho Gondim de Oliveira. Licitação-ferramenta de compras no setor público:contratação direta e pregão. João Pessoa: UFPB, 2004.MAGEE, John F. Logística industrial: análise e administração dos sistemas de suprimento edistribuição. São Paulo: Pioneira, 1977.MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 28o ed. São Paulo: Malheiros, 2003.MOTTA, Carlos Pinto Coelho. Pregão: teoria e prática: nova e antiga idéia em licitaçãopública. São Paulo: NDJ, 2001.NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e eletrônico. Curitiba: Zênite, 2004.

RSP
242
Vantagens e desvantagens do pregão na gestão de compras no setor público: o caso da Funasa/PB
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 227-243 Abr/Jun 2007
Resumo – Resumen – Abstract
Vantagens e desvantagens do pregão na gestão de compras no setor público: o caso daFunasa/PBJacqueline Nunes; Rosivaldo de Lima Lucena e Orlando Gomes da SilvaO presente artigo é parte de um estudo exploratório cujo objetivo foi analisar as vantagens e
desvantagens na aquisição de bens e serviços por meio das modalidades de licitação pregão presenciale eletrônico no serviço público. Para isso, foi realizado um estudo de caso na Fundação Nacional deSaúde da Paraíba. A parte da pesquisa divulgada neste artigo, além de uma síntese sobre o referencialteórico, apresenta as características investigadas da modalidade de licitação pregão, comparando suasformas presencial e eletrônica na instituição estudada. Os resultados apontam aspectos relevantesquanto às questões: vantagens e desvantagens do pregão eletrônico em relação ao pregão presenciale vice-versa; recursos para atendimento de despesas; planejamento anual da FUNASA/PB; economiade preço; economia e repasse de recursos para outras necessidades; prazos de fornecimento; treina-mento e capacitação de pessoal. Conclui a exposição destacando alguns pontos fortes e fracos doprocesso, sugerindo medidas a serem avaliadas no que tange a capacitação de pessoal e planejamentoanual na FUNASA/PB.
Palavras-chave: pregão; pregão eletrônico; gestão pública; eficácia.
Ventajas e desventajas del subasta revestida na gestión de compras en el sector publico –el caso del FUNASA/PBJacqueline Nunes; Rosivaldo de Lima Lucena y Orlando Gomes da SilvaEl actual artículo es parte de un estudio exploratório cuyo objetivo es analizar las ventajas y las
desventajas en la adquisición de bienes y servicios por medio de la modalidad de licitación: subastapresencial o electrónica ,en el servicio público. Para esto, un estudio de caso en la fundación nacionalde la salud del Paraíba fue llevado a cabo. La parte de la investigación divulgada en este artículo, másallá de una síntesis sobre el referencial teórico, presenta las características investigadas de la modalidadde licitación, comparando sus formas presencial y electrónica en la institución estudiada. Los resultadosseñalan aspectos importantes en las cuestiones de ventajas y desventajas de la subasta electrónica enlo referente a la presencial y viceversa; recursos para la atención de gastos; planeamiento anual delFUNASA/PB; economía de precio; economía y repases de los recursos para otras necesidades; plazosde provisión; entrenamiento y calificación de personal. Uno concluye poniendo en evidencia puntosfuertes y débiles del proceso y haciendo sugerencias de medidas que deberán ser evaluadas en lo quese refiere a la calificación de personal y al planeamiento anual en la FUNASA/PB.
Palabras-clave: proclamación; subasta a la baja administración pública; eficacia.
The advantages and disadvantages in reverse auction: the case of FUNASA/PBJacqueline Nunes; Rosivaldo de Lima Lucena and Orlando Gomes da SilvaThis article is part of an exploratory study whose objective was to evaluate conventional and
reverse auction trade-offs in the public service. To achieve that goal, a case study was accomplished atthe National Health Care Foundation in Paraíba State, Brazil (Fundação Nacional de Saúde daParaíba – FUNASA/PB). Besides a summary about theoretical references, the excerpt of the researchpublished in this article presents the investigated characteristics concerning procurement bidding,comparing its conventional and electronic approaches in the institution under study. The resultsshow relevant aspects of the following subjects: conventional and reverse auction trade-offs; resourcesfor expenditure; annual planning of FUNASA/PB; price economy; economy and resource transfers

RSP
243
Jacqueline Nunes; Rosivaldo de Lima Lucena e Orlando Gomes da Silva
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 227-243 Abr/Jun 2007
to other needs; provisions timing and staff training. The conclusion emphasizes both positive andnegative points concerning the process, and suggests that actions must be evaluated during stafftraining and annual planning at FUNASA/PB.
Keywords: reverse auction, e-reverse auction; public management; efficacy.
Jacqueline NunesGraduada em Administração. Contato: <[email protected]>.
Rosivaldo de Lima LucenaGraduado em Administração, Mestre e Doutorando em Engenharia de Produção. Atualmente é professor doDepartamento de Administração da UFPB. Contato: <[email protected]>.
Orlando Gomes da SilvaGraduado em Administração, Mestre em Engenharia de Produção, Professor do Instituto de Educação Superiorda Paraíba. Contato: <[email protected]>.


RSP
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 245-248 Abr/Jun 2007 245
Os direitos invisíveis
Reportagem
Os direitos invisíveis*
Claudia Asazu
A fala tranqüila da subprocuradora-geral da República e Procuradora Federaldos Direitos do Cidadão, Ela WieckoVolkmer de Castilho, esconde uma grandeinquietação quando o assunto é a defesa dosdireitos culturais. “Quando se pensa emdireitos culturais, logo se associa a minoriasétnicas, populações tradicionais ou em obrasde arte e tradições folclóricas. Mas essepatrimônio cultural, que não tem agrandiosidade de um monumento ou o graude elaboração de um livro, aquela coisa dodia-dia, das relações pessoais que se estabe-lecem em determinado grupo ou comuni-dade, que é também um patrimônio cultural,não tem força”, afirma. Ela faz um alerta:“na prática, os direitos culturais são invisíveis,o que leva a violações sistemáticas a este sea outros direitos humanos”.
Na Procuradoria Federal dos Direitosdo Cidadão, que coordena as atividadesdos procuradores da cidadania em todoo País nas questões relacionadas aosdireitos constitucionais da pessoa humana,onde Ela Wiecko está desde 2004, o temaé muito presente. Chegam ao seugabinete, diariamente, mais de 40processos, grande parte dos quais serefere às prestações dos serviços deeducação, saúde e previdência. “E vemosque muitos desses conflitos têm origemna falta de habilidade do gestor públicode conversar com o cidadão”, ressalta.
A procuradora foi, durante quatro anos,coordenadora da 6a Câmara deCoordenação e Revisão do MinistérioPúblico Federal, que trata dos temas relativosaos indígenas e outras minorias, em parti-cular quilombolas, comunidades extrativistas,ribeirinhas e ciganos. Essa experiênciareforça sua constatação de que o desres-peito aos direitos culturais atinge nãosomente as chamadas “minorias” e que apreocupação em defendê-los deve serexpandida a toda sociedade. “Os direitosculturais constituem, a meu ver, o elemento-chave para que as políticas públicasdirecionadas a atender os direitoseconômicos e sociais sejam bem sucedidas”,afirma. A seguir, leia os principais trechosda entrevista.Ela Wiecko – Procuradora Federal dos Direitos
do Cidadão

Os direitos invisíveis
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 245-248 Abr/Jun 2007
RSP
246
Respeito às diferenças
“A essência dos direitos culturais é orespeito aos modos de vida. No interiordo País, por exemplo, as pessoas saem ànoite e ficam sentadas nos bancos e calçadas.Isso é uma manifestação da cultura dointerior do Brasil e tem de ser respeitada.Em geral, entretanto, verifica-se, de início,desconsideração dessa cultura popular porparte dos servidores públicos e das políticaspúblicas. Pressupõe-se que a cultura que valea pena ser protegida é aquela que resultaem alguma produção material. O discursoé ‘eles são pobres, podem melhorar de vidacom a mudança, melhorar o sistema de
troca’. Um exemplo: há uma comissão, noâmbito do Conselho de Defesa dos Direitosda Pessoa Humana, que levanta os casos deconstrução de barragens que tenhamresultado em violação de direitos humanospara proposta de encaminhamento deprocedimentos que estabeleçam uma rotinade não violação desses direitos. Basicamente,essas violações referem-se à degradaçãoambiental e à desestruturação causada pelaconstrução desse tipo de obra. São pessoasque perderam seu espaço de encontro, nãopodem mais recorrer ao seu modo deprodução, ao seu jeito de cultivar a terra.O empreendedor diz: ‘antes vocêsmoravam em uma casa de sapé ou de barro
Avanços na Constituição não se refletem na prática jurídica
Em “Processo civil e igualdade étnico-racial” (PIOVESAN, Flávia; SOUZA, Douglas Martins de(coord.). Ordem jurídica e igualdade étnico-racial. Brasília: SEPPIR, 2006), Ela Wiecko aponta amudança de paradigma na relação entre Estado, sociedade e as minorias a partir da Constituiçãode 1988, expresso particularmente nos artigos 215 e 216, pelos quais a idéia de incorporar gruposdivergentes em prol da construção de uma comunhão nacional dá lugar à idéia de um Estadopluriétnico. A Constituição determina que cabe ao Estado o dever de garantir a todos o plenoexercício de seus direitos culturais – ou seja, garantir o respeito às formas de expressão e aosmodos de criar, fazer e viver. No entanto, esse avanço constitucional, segundo a autora, não foiacompanhado pela legislação infraconstitucional.
Exemplo disso é a inadequação do Código de Processo Civil para a tutela dos chamadosdireitos transindividuais, ou seja, que têm como titular o grupo como um todo. A lacuna éparticularmente visível no caso dos direitos culturais. A lei da Ação Civil Pública (Lei no 7.347/85)buscou preenchê-la, possibilitando que grupos organizados em forma de associações postulema fixação de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bensde valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico e urbanístico, bem como à ordemeconômica e à economia popular. Wiecko ressalta, entretanto, que essa possibilidade não éconferida às comunidades indígenas, quilombolas e ciganas, que não têm legitimidade parapropor essa ação. “A criação de associações, a utilização de outras espécies de ações, a propositurada ação pelo Ministério Público ou por outras entidades são soluções adotadas, que, contudo,não reforçam a autonomia dos povos e comunidades”, afirma. Não existindo no Código deProcesso Civil vigente a possibilidade de ajuizar um processo civil coletivo, essas comunidadesficam, a despeito do preceito constitucional, à margem da proteção jurídica. Outra lacuna refere-se à ausência de um “tradutor cultural” nos processos judiciais envolvendo minorias étnicas.Esse tradutor seria um profissional, em geral, um antropólogo, capaz de fazer compreender aojuiz e às demais partes do processo o contexto sociopolítico e cultural daquele grupo. “A ausênciade profissional capaz de estabelecer diálogo intercultural faz com que o sistema judicial ignore adiversidade cultural e aplique o direito sempre do ponto de vista étnico dominante”, destaca.

RSP
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 245-248 Abr/Jun 2007 247
Os direitos invisíveis
e agora moram em uma casa de alvenaria,perto da cidade, não têm o que reclamar’.Ou seja, há, a priori, desvalorização de certasculturas. Parte-se da idéia de que a pessoadeveria tornar-se mais feliz porque lhe foiconstruída uma casa de material melhor,mas há uma dimensão da vida pessoas quenão é puramente material, calcada nasrelações que se estabelecem naquele grupoe com o lugar onde moram. Elas sabem sea vida delas melhorou ou não, mas esse sabernão é levado em conta. Outro exemplo: háum grande número de trabalhadores emsituação análoga à escravidão que sãoresgatados e sensibilizados sobre suasituação, mas voltam a essa condição. Porquê? Em parte, porque a conversa que setêm com esses trabalhadores não leva emconsideração seus valores. É o caso dosindígenas do Mato Grosso do Sul que eramlevados para os canaviais de São Paulo.Os índios não consideravam isso ruim, pelocontrário. Eles têm um rito de passagemem que é importante vencer obstáculos eeles vão por iniciativa própria. Não basta,assim, dizer-lhes que o trabalho escravo écrime, eles têm de compreender esse fato eempoderar-se. As políticas públicas que nãoanalisam a prática cultural correm o riscode fracassar. O respeito à individualidade,às diferenças é fundamental. Isso exige acriação de serviços públicos diferenciados,tendo em vista que o modelo de culturahegemônica esgotou-se. É preciso, assim,lembrar de trazer o destinatário da políticapública ao processo decisório e saber quetornar o cidadão mais feliz tem de ter algumarelevância para a política pública”.
O direito das pessoas comuns
“Os direitos culturais constituem, ameu ver, o elemento-chave para que aspolíticas públicas direcionadas a atenderos direitos econômicos e sociais sejam
bem sucedidas. Hoje, na configuraçãodessas políticas, os modos de pensar,fazer e viver das pessoas não são valori-zados e elas acabam sendo uma impo-sição de regras e soluções. Nacoordenação da 6a Câmara, lidei comquestões envolvendo indígenas resultantesda construção da usina elétrica de CanaBrava, em Goiás. Na Procuradoria dosDireitos do Cidadão, lido com questõestrazidas por pessoas que não são nemindígenas, nem quilombolas, mas pessoascomuns, que trabalham na terra, quebuscam respeito aos seus costumes. Aqui,as maiores reclamações dizem respeito aoatendimento da educação, saúde e previ-dência. Observa-se, nessas questões, quemuitos conflitos têm origem na falta dehabilidade do administrador paraconversar com o cidadão, em especial omais pobre, o mais simples, os que vêmde outra cultura. Estou convencida de quegrande parte dos atritos surgem dessafalta de comunicação. Eu vejo que mesmoas mudanças incorporadas pelo desenvol-vimento do governo eletrônicoatropelam, de certo modo, as pessoas.É uma modernidade que não chega àpessoas mais simples, uma cultura que seimpõe sobre a outra, que exclui a outra,quando a idéia é que ela traga felicidade”.
Sensibilização
“Para os procuradores, oferecemosum curso de uma semana sobre o tema.Mas não basta, em cursos, seminários outreinamentos relatar o direito, a violação,etc. Em um grande grupo, apenasuma minoria vai levar em conta isso.A grande maioria vai ouvir, mas não vaiincorporar essa dimensão na sua prática.É preciso colocar-se no lugar do outro.O procurador, o servidor público temde sentir-se com aquele problema. Por

Os direitos invisíveis
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 245-248 Abr/Jun 2007
RSP
248
onde começar para que questõestransversais como gênero, raça, entreoutros, passem a integrar a rotina? NoMinistério das Minas e Energia, porexemplo, existe um comitê de gênero1, ouseja, um grupo de pessoas foi destacadopara provocar e propor medidas nosentido de oferecer a homens e mulheresas mesmas oportunidades. Em outroslugares, o mesmo ocorre com relação aquestões relativas à igualdade étnico-racial,ao acesso aos deficientes, etc. Aos poucos,essa preocupação se torna comum.É necessário também procurar com-preender o outro. Nos processos penaisenvolvendo indígenas, principalmentequando são autores do crime, vê-se queo próprio Ministério Público e o Judi-ciário não conseguem perceber umacaracterística cultural do índio, osentimento de pertencimento à coleti-vidade que é muito maior que o nosso.Nos modos de ser dos índios os vínculoscoletivos são muito estreitos e fortes, oque acontece com um, acontece com todaa tribo. Quando há crime, a tribo pune –por exemplo, um tipo de pena muitopresente entre eles é o banimento –, masessa forte não é considerada. O quepoderia ser feito? O Judiciário poderiaconsiderar que não houve crime, poderiareduzir a pena, poderia entender queaquela pessoa já foi punida. Poderiatambém afastar um crime quando aquelaação é plenamente justificada pelas regrasde comportamento daquele povoindígena, algo que não ocorre hoje”.
Notas
* Reportagem realizada com base na entrevista feita com a Dra. Ela Wiecko, no dia 16 demaio de 2007.
1 Comitê Permanente para as Questões de Gênero do MME e Empresas Vinculadas, estabelecidoem maio de 2004.
Comissão especial estuda populaçõesatingidas por barragens
O Conselho de Defesa dos Direitos da PessoaHumana, órgão colegiado vinculado àSecretaria Especial de Direitos Humanos daPresidência da República, instituiu, em 2006,uma comissão especial com o objetivo deacompanhar denúncias de ocorrências deviolações de direitos humanos decorrentesda construção de barragens e apresentarpropostas para a prevenção, avaliação emitigação dos impactos sociais e ambientaisda implementação dessas barragens, bemcomo a preservação e reparação dos direitosdas populações atingidas.Um de seus relatórios mais recentes expõe asituação dos atingidos pela Barragem deAcauã, na Paraíba, inaugurada em 2002,destacando a degradação social da populaçãoafetada pela obra. “Os atingidos foramobrigados a mudar seu modo de vida:saíram de uma vida tradicionalmente ruralpara um meio ‘urbano’ (sem a estrutura deuma aglomeração urbana). Não há terrasagricultáveis, nem terrenos que permitam acriação de animais. As famílias nadaproduzem. Não há alternativas de trabalhopara esses cidadãos de pouca instrução,totalmente adaptados à vida no campo”. Orelatório aponta ainda a perda do acesso àágua. As famílias, que antes tinham cisternas,açudes ou captavam a água do rio, passarama depender de um precário sistema decaptação e distribuição de água.
Fonte: Relatório das atividades de visita ao Estadoda Paraíba e aos assentamentos decorrentes daimplementação da barragem de Acauã. Disponívelem: <www.mabnacional.org.br/materiais/relatorioemergencial_acaua.doc>.

RSP
249
Anízio Teixeira
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 249-260 Abr/Jun 2007
RSP Revisitada
Ciências e artede educar
Texto publicado na RSP de março de 1957 (vol. 74, ano 20, n.3)
Anízio Teixeira
Agradeço ao amigo – e mestre – Professor Fernando de Azevedo, o privilégio
de vos falar, ao encerrar-se êste seminário de educação, com o qual se
inauguraram, em 1957, as atividades do Centro Regional de Pesquisas Educa-
cionais, confiado, afortunadamente, à sua alta e sábia direção.
Este centro, como os seus congêneres, o brasileiro e os demais centros
regionais, representam elos no esfôrço continuado com que o Brasil tem
procurado acompanhar o desenvolvimento da arte de educar – a educação –
nos últimos cinqüenta anos, desenvolvimento que se caracteriza por uma revisão
de conceitos e de técnicas de estudo, à maneira, dir-se-ia, da transformação
operada na arte de curar – a medicina quando se emancipou da tradição, do
acidente, da simples “intuição” e do empirismo e se fêz, como ainda se vem
fazendo, cada vez mais científica.
Todos sabemos que isto se deu com a medicina, devido aos progressos dos
métodos de investigação e de prova. O desenvolvimento das ciências que lhe

RSP
250
Ciências e arte de educar
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 249-260 Abr/Jun 2007
iam servir de base e das técnicas científicasde que iria cada vez mais utilizar-se e mesmoapropriar-se, levaram a medicina a umprogresso crescente, com a aplicação cadavez mais consciente de métodos própriosde investigação e de prova. São dêsse tipo– claro que sob os influxos dos progressosmais recentes ainda de outras ciências – osdesenvolvimentos que desejamos suscitar naeducação, com o cultivo, nos centros depesquisas, que se estão fundando no Brasil,dentre os quais êste de São Paulo é o maisexpressivo, de métodos próprios de inves-tigação e prova no campo educacional.
Como a medicina, a educação é umaarte. E arte é algo de muito mais complexoe de muito mais completo que uma ciência.Convém, portanto, deixar quanto possívelclaro de que modo as artes se podem fazercientíficas.
Arte consiste em modos de fazer.Modos de fazer implicam no conhecimentoda matéria com que se está lidando, emmétodos de operar com ela e em um estilopessoal de exercer a atividade artística. Nasbelas artes, ao estilo pessoal chegamos aatribuir tamanha importância que, muitasvêzes, exagerando, consideramos que apersonalidade artística é tudo que é necessárioe suficiente para produzir arte. Não éverdade. Mesmo nas belas artes, o domíniodo conhecimento e o domínio das técnicas,se por si não bastam, são, contudo, impres-cindíveis à obra artística.
A educação pode, com alguns rarosexpoentes, atingir o nível das belas artes,mas, em sua generalidade, quase sempre,não chega a essa perfeição, conservando-se no nível das artes mecânicas ou práticas,entendidos os termos no sentido humanoe não no sentido de maquinal, restritivoapenas quanto a belo e estético.
O progresso nas artes – sejam belasou mecânicas – se fará um progresso
científico, na medida em que os métodosde estudo e investigação para êsteprogresso se inspirem naquelas mesmasregras que fizeram e hão de manter oprogresso no campo das ciências, ou sejamas regras, para usar expressão que não maisse precisa definir, do “método científico”.
A passagem, no campo dos conheci-mentos humanos, do empirismo para aciência foi e é uma mudança de métodosde estudo, graças à qual passamos aobservar e descobrir de modo que outrospossam repetir o que observarmos e,descobrirmos e, assim, confirmar os nossosachados, que se irão, de tal maneira, acumu-lando e levando a novas buscas e novasdescobertas. Se esta foi a mudança queoriginou os corpos sistematizados deconhecimentos a que chamamos de ciências,um outro movimento, paralelo ao dasciências e dêle conseqüente mas, de certomodo autônomo, foi o da mudança das“práticas” humanas pela aplicação doconhecimento científico. Ao conhecimentoempírico correspondiam as práticasempíricas ao conhecimento científicopassaram a corresponder as práticascientíficas. As práticas, com efeito, fundadasna que a ciência observou, descobriu eacumulou, e, por seu turno, obedecendo aosmesmos métodos científicos, se transfor-maram em prática tecnológicas e, dêstemodo renovadas, elas próprias se consti-tuíram em fontes novos problemas, novasbuscas e novos progressos.
Com o desenvolvimento das ciênciasfísicas e matemáticas e depois das ciênciasbiológicas, as artes da engenharia e damedicina, obedecendo em suas “práticas”às regras científicas da observação, dadescoberta e da prova puderam frutificarnos espantosos progressos modernos. Algode semelhante é que se terá de introduzirna arte de educar, a fim de se lhe darem as

RSP
251
Anízio Teixeira
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 249-260 Abr/Jun 2007
condições de desenvolvimento inteligente,controlado, contínuo e sistemático, quecaracterizam o progresso científico.
Não se trata, pois, de criar propria-mente uma “ciência da educação”, que, nosentido restrito do têrmo, como ciênciaautônoma, não existe nem poderá existir;mas de dar condições científicas à ativi-dade educacional, nos seus três aspectosfundamentais – de seleção de material parao currículo, de métodos de ensino edisciplina, e de organização e administraçãodas escolas. Por outras palavras: trata-se delevar a educação para o campo das grandesartes já científicas – como a engenharia e amedicina – e de dar aos seus ‘métodos,processos e materiais a segurança inteligente,a eficácia controlada e a capacidade deprogresso já asseguradas às suas prede-cessoras relativamente menos complexas.
Está claro que essa inteligência da artede educar a afasta radicalmente das artespredominantemente formais, como a dodireito, por exemplo, à qual, me parece,temos, como país, uma irresistível incli-nação a identificar a educação. Com efeito,embora não caiba aqui a análise apro-fundada dessa inclinação, os sinais sãomuito evidentes de que ainda consideramoseducar antes como uma arte dominan-temente formal, à maneira do direito1, doque como uma arte material, à maneira damedicina ou da engenharia.
Fora essa tendência distorciva, maisentranhada quiçá do que o imaginamos eque importa evitar, a introdução de métodoscientíficos no estudo da educação não irádeterminar nada de imediatamente revolu-cionário. As artes sempre progrediram. Mas,antes do método científico, progredirampor tradição, por acidente, pela pressão decertas influências e pelo poder “criador” dosartistas. Com o método científico, vamossubmeter as “tradições” ou as chamadas
“escolas” ao crivo do estudo objetivo, osacidentes às investigações e verificaçõesconfirmadoras e o poder criador doartista às análises reveladoras dos seussegredos, para a multiplicação de suasdescobertas; ou seja, vamos examinarrotinas e variações progressivas, ordená-las, sistematizá-las e promover, delibera-damente, o desenvolvimento contínuo ecumulativo da arte de educar.
Não se diga, entretanto, que tenha sidosempre êste o entendimento do que se vemchamando de ciência da educação, à qualjá aludimos com as devidas reservas. Pelocontrário, o que assistimos nas primeirasdécadas dêste século e que só ultimamentese vem procurando corrigir foi a aplicaçãoprecipitada ao processo educativo deexperiências científicas que poderiam tersido psicológicas, ou sociológicas, mas nãoeram educacionais, nem haviam sidodevidamente transformadas ou elaboradaspara a aplicação educacional.
De outro lado, tomaram-se deempréstimo técnicas de medida e expe-riência das ciências físicas e se pretendeuaplicá-las aos fenômenos psicológicos ementais, julgando-se científicos os resul-tados porque as técnicas – tomadas deempréstimo – eram científicas e podiamos tais resultados serem formuladosquantitativamente.
Houve, assim, precipitação em aplicardiretamente na escola “conhecimentos”isolados de psicologia ou sociologia e,além disto, precipitação em considerarêsses “conhecimentos” verdadeirosconhecimentos.
A realidade é que não há ciênciaenquanto não houver um corpo sistemá-tico de conhecimentos, baseados emprincípios e leis gerais, que lhes dêemcoerência e eficácia. Aí estão as ciênciasmatemáticas e físicas com todo o seu lento

RSP
252
Ciências e arte de educar
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 249-260 Abr/Jun 2007
evoluir até que pudessem florescer nasgrandes áreas das tecnologias, que corres-pondem à sua aplicação às práticashumanas. Logo após vem o ainda maislento progresso das ciências biológicas e aagronomia, a veterinária e a medicinacomo campos de aplicação tecnológica.
Para que as “práticas” educativaspossam também beneficiar-se de progressosemelhante, será preciso antes de tudo queas ciências que lhes irão servir de fontes sedesenvolvam e ganhem a maturidade dasgrandes ciências já organizadas. Até aí háque aceitar não só que o progresso sejalento, mas que seja algo incerto e,sobretudo, não susceptível de generalização.Mas antes progredir, assim, tateando,sentindo os problemas em tôda a suacomplexidade, mantendo em suspenso osjulgamentos, do que julgar que podemossimplificar a situação, considerá-la pura-mente física ou biológica e aplicar métodose técnicas aceitáveis para tais campos, masinadequadas para o campo educativo, pelasua amplitude e complexidade.
Convém, realmente, insistir na distinçãoentre o campo da ciência e do conhecimentoem si e o campo da aplicação do conheci-mento e da prática ou da arte. Bastaria,talvez, dizer que a ciência é abstrata, isto é,que busca conhecer o seu objeto numsistema tão amplo de relações, que oconhecimento científico, como tal,desborda de qualquer sistema particular,para se integrar num sistema tão geral, quenele só contam as relações dos conheci-mentos entre si; e que a “prática” é umsistema concreto e limitado, em que aquêlesconhecimentos se aplicam com as modi-ficações, alterações e transformaçõesnecessárias à situação. Por isto mesmo, umaregra de arte, ou seja, uma regra de prática.
Leis e fatos, que são os produtosdas ciências, ministram ao prático não
propriamente regras de operação, mas,recursos intelectuais para melhor observare melhor guiar a sua ação no campo maisvasto, mais complexo, com maior númerode variáveis da sua indústria ou da sua arte.A velha expressão, na prática é diferente, éum modo simples de indicar essa verdadeessencial de que a ciência é um recursoindireto, é um intermediário e nunca umaregra direta de ação e de arte. A ciência éuma condição – e mesmo uma condiçãobásica – para a descoberta tecnológica ouartística, mas não é, ou ainda não é essadescoberta. Quando se trata de tecnologiadas ciências físicas, o processo prático nãochega à exatidão do processo de labora-tório, mas, pode chegar a graus apreciáveisde precisão. Mas, se a tecnologia é a deum processo de educação, podemos bemimaginar quanto as condições de labora-tório são realmente impossíveis de trans-plantação para a situação infinitamente maiscomplexa da atividade educativa.
Não quer isto dizer que a ciência sejainútil, mas que a sua aplicação exigecuidados e atenções todo especiais, valendoo conhecimento científico como umingrediente a ser levado em conta, semperder, porém, de vista todos os demaisfatôres.
Em educação muita cousa se fêz emoposição a êsse princípio tão óbvio, coma aplicação precipitada de conhecimentoscientíficos ou supostamente científicosdiretamente como regras de práticaeducativa e a transplantação de técnicasquantitativas das ciências físicas para osprocessos mentais, quando não educativos,importando tudo isto em certo descréditoda própria ciência.
Para tal situação concorreu, semdúvida, o fato de nem sempre haveremsido as “práticas educativas” as forne-cedoras dos “dados” do problema, como

RSP
253
Anízio Teixeira
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 249-260 Abr/Jun 2007
deverá ser, se tivermos de contar com aciência para nos ajudar a progredir na artede educar, E em segundo lugar, concorrecerta impaciência de resultados positivosque aflige tanto – hélas! – as ciências jovensque servem de fonte e base a uma possívelarte de educar menos empírica e maiscientífica.
Com efeito, tais ciências não nos irãodar regras de arte, mas conhecimentosintelectuais para rever e reconstruir, commais inteligência e maior segurança, asnossas atuais regras de arte, criar, se possível,outras e progredir em nossas práticas educa-cionais, isto é, nas práticas mais complexasda mais complexa arte humana.
Tudo, na realidade, entra nessa prática.A nossa filosofia, concebida como oconjunto de valores e aspirações, as ciênciasbiológicas, psicológicas e sociais, tôdas asdemais ciências como conteúdo do ensino,enfim, a cultura, a civilização e o pensa-mento humano em seus métodos e em seusresultados. Prática desta natureza e destaamplitude não vai buscar as suas regras emnenhuma ciência isolada, seja mesmo apsicologia, a antropologia, ou a sociologia;mas em todo o saber humano e, por istomesmo, será sempre uma arte em quetodas as aplicações técnicas terão de sertransformadas, imaginativa e criadora-mente, em algo de plástico e sensívelsusceptíveis de ser considerado antessabedoria do que saber – opostos taistermos um ao outro no sentido de quesabedoria é, antes de tudo, a subordinaçãodo saber ao interesse humano e nãopróprio interesse do saber pelo saber(ciência) e muito menos a interesses apenasparciais ou de certos grupos humanos.
Mas tôda essa dificuldade não é paraque o educador se entregue à rotina, aoacidente ou ao capricho, mas busquecooperar na transição da educação do seu
atual empirismo para um estado progres-sivamente científico.
Dois problemas diversos avultamnessa transição. Primeiro, é o do desenvol-vimento das ciências fonte da educação.Assim como as ciências matemáticas efísicas são as ciências fonte principais daengenharia, assim como, as ciências bioló-gicas são as ciências fonte principais damedicina, assim a psicologia, a antropo-logia e a sociologia são as ciências fonteprincipais da educação.
Enquanto estas últimas não se desen-volverem até um mais alto grau de matu-ridade e segurança não poderão dar àeducação os elementos intelectuais neces-sários para a elaboração de técnicas eprocessos que possam constituir oconteúdo de uma possível “ciência deeducação”. E êste é o segundo problema.Porque ainda que as ciências fonte quantoà educação estivessem completamentedesenvolvidas, nem por isto teríamosautomaticamente a educação renovadacientificamente, pois, conforme vimos,nenhuma conclusão científica é diretamentetransformável em regra operatória noprocesso de educação. Todo um outrotrabalho tem de ser feito para que os fatos,princípios e leis descobertas pela ciênciapossam ser aplicadas na prática educacional.
Na própria medicina, com efeito,atrevo-me a afirmar, os princípios e leisda ciência servem antes para guiar eiluminar a observação, o diagnóstico e aterapêutica, não se impondo rigidamentecomo regras à arte médica, regras de clínica,regras imperativas da arte de curar.
A ciência oferece, assim, a possibilidadede um primeiro desenvolvimento tecno-lógico, que fornece à arte melhores recursospara a investigação dos seus própriosproblemas e, dêste modo, sua melhorsolução. Num segundo desenvolvimento

RSP
254
Ciências e arte de educar
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 249-260 Abr/Jun 2007
também tecnológico, oferece recursosnovos para o tratamento e a cura, mas aarte clínica continua sendo uma arte decerto modo autônoma, a ser aprendida àparte, envolvendo métodos próprios deinvestigação e análise, de registro dos casos,de comparações e analogias, de experiênciae tirocínio, em que, além de um conteúdopróprio mais amplo do que os puros fatoscientíficos, sobressaem sempre o estilopessoal do médico, a sua originalidade e oseu poder criador. A ciência, aliás, longede mecanizar o artista ou o profissional,arma a sua imaginação com os instru-mentos e recursos necessários para seusmaiores vôos e audácias.
Ora, o mesmo é o que há de ocorrerno domínio da educação – da arte deeducar. Neste, o campo precípuo ouespecífico – atelier, laboratório ou oficina –é a sala de classe, onde os mestres, elespróprios também investigadores, desde ojardim de infância até a universidade.São as escolas o campo de ação dos edu-cadores, como o dos médicos são oshospitais e as clínicas.
Os especialistas de ciências autônomassão grandes contribuintes para a chamadaciência médica, como serão para a que viera se chamar de ciêcia da educação, masnenhum resultado científico, isto é, oconhecimento de cada ciência, mesmociência básica ou ciência fonte, é por si umconhecimento educacional ou médico,nem dará diretamente uma regra de açãomédica ou educacional. Tais conheci-mentos ajudarão o médico ou o educadora observar melhor, a diagnosticar melhore, assim, a elaborar uma melhor arte decurar ou uma melhor arte de educar.
Tomemos uma ilustração qualquer.Sejam, por exemplo, os testes de inteli-gência, que se constituíram, por certo, umdos mais destacados recursos novos da
“ciência” para a técnica escolar. Para queservem êles? – Para diagnosticar commaior segurança limites de capacidade deaprender do aluno. Se o tomarmos apenaspara isto, aumentaremos sem dúvida osnossos recursos de observação e conheci-mento do aluno e melhor poderemos lidarcom as situações de aprendizagem, semperder de vista as demais condições efatôres de tais situações.
Se, porém, ao contrário, tomarmos êsserecurso parcial de diagnóstico mentalcomo uma regra educativa e quisermoshomogeneizar rigidamente os grupos deQ.I. idêntico ou aproximado e procederuniformemente com todos os seuscomponentes, não estaremos obedecendoà complexidade total da situação práticaeducativa e muito menos a nenhuma“ciência de educação”, pois esta nãoreconheceria tal classificação como válida,reconhecendo hoje que a situação é total-mente empírica, incluindo fatôres entre osquais o Q.I. é apenas um no complexo dasituação “aluno-professor-grupo-meio”em que se encontra o aprendiz.
Nem por isto será, entretanto, inútil oconhecimento do Q.I., pois a alteração dacapacidade de aprender do aluno passa,em face dos dados do Q. I., a ser vista eestudada sob outra luz.
A ciência, assim, como já afirmamos,não oferece sinão um dado básico e jamaisa regra final de operação. Esta há que serdescoberta no complexo da situação deprática educativa, em que se encontremprofessor e aluno, levando-se em contatodos os conhecimentos científicosexistentes, mas, agindo-se autônomamenteà luz dos resultados educativos propriamenteditos, isto é, de formação e progressohumano do indivíduo, a que visam tantoaquêles conhecimentos quanto êstesresultados.

RSP
255
Anízio Teixeira
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 249-260 Abr/Jun 2007
Nesta fase é que vimos entrandoultimamente. Há um real amadurecimentoentre as ciências especiais, fontes daeducação, superados os entusiasmos dasprimeiras desccobertas. Com relação aostestes de inteligência, até o nome vem sendohoje evitado, preferindo-se o nome detestes de aptidões diferenciais, pois já sereconhece que estamos longe de medir ofamoso “g” ou fator geral, mas medimosapenas uma série de aptidões decorrentesda cultura em que se acha imersa a criançae não inteiramente independente daeducação anterior. Não é isto nenhumdescrédito para os testes chamados deinteligência, mas pelo contrário, umprogresso, uma nova precisão.
Prejudicial, talvez, foi antes o excessivoentusiasmo anterior. A precipitada apli-cação de produtos ainda incertos de“ciência” à escola parece haver exacerbadocertos aspectos quantitativos e mecani-zantes, conduzindo ao tratamento do alunocomo algo abstrato a ser manipulado porcritérios de classificação em grupossupostamente homogêneos, dando aoprofessor a falsa esperança de poderensinar por meio de receitas, muitas dasquais de científicas só tinham a etiqueta.
Com relação à “ciência” do ato deaprendizagem o mesmo novo desenvolvi-mento se pode observar. Compreende-semelhor que “aprender” é algo de muitomais complexo do que se poderia supor efrancamente uma atividade prática a sergovernada, se possível, por uma psico-técnica amadurecida e não pela psicologia.Ora, quanto isto nos distancia das “leis”de aprendizagem, em que se ignoravam,além de muito mais, as relações professor-aluno-colegas e se imaginava o aprendizcomo um ser isolado e especial, queoperasse abstratamente, como abstratashaviam sido e não podiam deixar de ser
as experiências de laboratório quehaviam conduzido às supostas leis deaprendizagem.
Para essa precipitada aplicação naescola de resultados fragmentários eimaturos da ciência, concorreu também –e merece isto registro especial – umapeculiar prevenção, digamos assim, daciência para com a filosofia, ou um dissídioentre uma e outra, de alcance e efeitonegativo. Explico o que desejo significar.
Como tôda ciência foi primeirofilosofia e como seu progresso geralmentese processou com o distanciamento cadavez maior daquela filosofia originária, podeparecer e parece que ciência e filosofia seopõem e os conhecimentos serão tantomais científicos quanto menos filosóficos.
Ora, tal êrro é grave, mesmo emdomínios como os da matemática e dafísica. Mas em educação é bem mais grave.Com efeito, se històricamente, progressodas ciências se fêz com o seu distancia-mento dos métodos puramente dedutivosda filosofia, não quer isto dizer que asciências não operem realmente sôbre umafilosofia. O seu afastamento foi antes umafastamento de determinada filosofia exclusi-vamente especulativa, ou melhor, “livre-mente” especulativa, para a adesão a umanova filosofia de base científica; como estanova filosofia foi quase sempre uma filosofiaimplícita e não explícita, o equívoco pôdese estabelecer e durar.
A realidade é que filosofia e ciência sãodois pólos do conhecimento humano, afilosofia representando o mais alto graude conhecimento geral e a ciência tendendopara o mais alto grau de conhecimentoespecial. Entre ambas tem de existir umcomércio permanente, a ciência se revendoà luz dos pressupostos e conceitos genera-lizadores da filosofia. Neste sentido, afilosofia nutre permanentemente a ciência

RSP
256
Ciências e arte de educar
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 249-260 Abr/Jun 2007
com as suas integrações e visões deconjunto e a ciência nutre a filosofia,forçando-a a combinações e síntese maisfundadas, menos inseguras e mais ricas.
Não se trata do quase equívoco de quea filosofia elabora os fins e a ciência osmeios, mas da verdade de que ambaselaboram, criticam e refinam os fins e osmeios, pois uns e outros sofrem e precisamsofrer tais processos de crítica e revisão, aciência criando muitas vezes novos finscom as suas descobertas e a filosofia criti-cando permanentemente os meios à luzdos fins que lhe caiba descobrir e proporà investigação científica.
A não existência dessa cooperação ouinteração, entre a ciência e a filosofia, levoua chamada “ciência da educação” a nãoter filosofia, o que corresponde realmentea aceitar a filosofia do statu quo e a trabalharno sentido da tradição escolar, a que efeti-vamente obedeceu, agravando, em muitoscasos, com a eficiência nova que lhes veiotrazer, os aspectos quantitativos e mecâ-nicos da escola, que lhe teriam de parecer– et pour cause – os mais científicosaspectos da escola.
Hoje, felizmente, estamos bem maisamadurecidos e os estudos de educaçãonão desdenham das contribuições que lhesterá de trazer a filosofia, também ela cadavez mais de base científica, e começam aser feitos à luz da situação global escolare de suas “práticas”, que urge rever etornar progressivas em face dos conheci-mentos que vimos adquirindo no campodas ciências especiais, ciências fonte daeducação principalmente a antropologia,a psicologia é a sociologia não já paraaplicar na escola, diretamente, os resul-tados da investigação científica no campodestas ciências, mas para, tarnando taisresultados como instrumentos intelectuais,elaborar técnicas, processos e modos de
operação aprcpriados à função prática deeducação.
‘Os nossos Centros de Pesquisa Educa-cional se organizam, assim, num momentode revisão e tomada de consciência dosprogressos do tratamento científico dafunção educativa e, por isto mesmo, têmcerta originalidade. Pela primeira vez,busca-se aproximar uns dos outros ostrabalhadores das ciências especiais, fontesde uma possível “ciência” da educação, eos trabalhadores de educação, ou sejam osdessa possível “ciência” aplicada daeducação. Esta aproximação visa, antes detudo, levar o cientista especial, o psicólogo,o antropólogo, o sociólogo, a buscar nocampo da “prática escolar” os seus problemas.Note-se que os problemas das ciênciasbiológicas humanas originaram- se e aindahoje se originam na medicina.
É preciso que as ciências sociais, alémde outros problemas que lhe sejam expres-samente próprios, busquem nas atuaissituações de prática educativa vários e nãopoucos problemas, que também lhe sãopróprios.
Como na medicina, ou na engenharia,não há, strictu-senso, uma ciência de curarnem de construir, mas, artes de curar e deconstruir, fundadas em conhecimentos devárias ciências, assim os problemas da artede educar, quando constituírem problemasde psicologia, de sociologia e de antro-pologia, serão estudados por essas ciênciasespeciais e as soluções encontradas irãoajudar o educador a melhorar a sua arte e,dêste modo, provar o acêrto final daquelassoluções ou conhecimentos, ou, em casocontrário, obrigar o especialista a novosestudos ou a nova colocação doproblema. A originalidade dos Centrosestá em sublinhar especialmente essa novarelação entre o cientista social e o educador.Até ontem o educador julgava dispor de

RSP
257
Anízio Teixeira
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 249-260 Abr/Jun 2007
uma ciência autônoma, por meio da qualiria criar simultâneamente um conheci-mento educacional e uma arte educacional.E o cientista social estudava outrosproblemas e nada tinha diretamente a vercom a educação. Quando resolviacooperar com o educador, despia-se desua qualidade de cientista e se fazia tambémeducador.
Os Centros vêm tentar associá-los emuma obra conjunta, porém com umaperfeita distinção de campos de ação. Osociólogo, o antropólogo e o psicólogosocial não são sociólogos-educacionais, ouantropólogo-educacionais, ou psicólogos-educacionais, mas sociólogos, antro-pólogos e psicólogos estudandoproblemas de sua especialidade, emboraoriginários das “práticas educacionais”.
Os educadores – sejam professôres,especialistas de currículo, de métodos oude disciplina, ou sejam administradores –não são, repitamos, cientistas, mas, artistas,profissionais, práticos (no sentido dopractioner inglês), exercendo, em métodose técnicas tão científicas quanto possível, asua grande arte, o seu grande ministério.Serão cientistas como são cientistas osclínicos; mas sabemos que só em linguagemlata podemos efetivamente chamar osclínicos de cientistas.
Acreditamos que esse encontro entrecientistas sociais e educadores “científicos”– usemos o termo – será da maior ferti-lidade e, sobretudo, que evitará os equívocosainda tão recentes da aplicação precipitadade certos resultados de pesquisas científicasnas escolas, sem levar em conta o caráterpróprio da obra educativa. Com os dadosque lhe fornecerá a escola, o cientista irácolocar o problema muito mais acertadamentee submeter os resultados à prova da práticaescolar, aceitando com maior compreensãoêste teste final.
Tenho confiança de que bem escla-recida e estudada essa posição, de que estoua tentar aqui os fundamentos teóricos,ser-nos-á possível ver surgir o sociólogoestudioso da escola, o antropólogo estu-dioso da escola, o psicólogo estudioso doescolar, não já como êsses híbridos que são,tantas vêzes, os psicólogos, sociólogos eantropologistas educacionais, nem bemcientistas nem cientistas nem bem cientistasnem também educadores, mas comocientistas especializados, fazendo, verdadei-ramente, ciência, isto é, socologia, antro-pologia e psicologia, e ajudado os edu-cadores, ou sejam os clínicos da educação,assim os cientistas da biologia ajudam osclínicos da medicina.
Parece-me não ser uma simples nuancea distinção. Por outro lado, isto é o que jáse faz, sempre que se distingue o conhe-cimento teórico, objeto da ciência, da regraprática, produto da tecnologia e da arte. Aconfusão entre os dois campos é que éprejudicial. É preciso que o cientistatrabalhe com o desprendimento e o“desinterêsse” do cientista, que não sejulgue êle um educador espicaçado emresolver problemas práticas, mas o inves-tigador que vai pesquisar pelo interêsse dapesquisa. O seu problema orginou-se deuma situação de prática educacional, masé um problema de ciência, no sentido deestar desligado de qualquer interêsseimediato e visar estabelecer uma teoria, istoé, o problema é um problema abstrato,pois, abstração é essencial para o estudocientífico que vise a formulação deprincípio e leis de um sistema coerente eintegrado de relações. Os chamadosestudos “desinteressados” ou “puros” nãosão mais do que isto. São estudos das cousasem si mesmas, isto é, nas suas mais amplasrelações possíveis. As teorias científicas docalor, da luz, da côr ou da eletricidade são

RSP
258
Ciências e arte de educar
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 249-260 Abr/Jun 2007
resultados do estudo dêsses fenômenos emsi mesmos, desligados de qualquer interesseou uso imediato. No fim de contas, a teoriaé, como se diz, a mais prática das cousas,porque, tendo sido o resultado do estudodas cousas no aspecto mais geral possível,acaba por se tornar de utilidade universal.
Assim terão de ser e nem poderãodeixar de ser os estudos dos cientistassociais destinados a contribuir para oprogresso das práticas educativas, pois, docontrário, estariam os cientistas aplicandoconhecimentos, e não buscando descobri-los. Armados que sejam os problemas,originários da prática educacional, mas nãode prática educacional, deve o pesquisadordespreocupar-se de qualquer interêsseimediato e alargar os seus estudos até osmais amplos limites, visando descobrir os“fatos” e as suas relações, dentro dos maisamplos contextos, para a eventualformulação dos “princípios” e “leis” queos rejam.
Tais “fatos”, princípios e “leis” não irão,porém, fornecer ao educador, repitamos,nenhuma refra de ação ou de prática, mas,idéias, conceitos, instrumentos intelectuaispara lidar com a experiência educacionalem sua complexidade e variedade epermitir-lhe a elaborar, por sua vez, astécnicas flexíveis e elásticas de operação eos modos de proceder inteligentes eplásticos, indispensáveis à condução dadifícil e suprema arte educar.
Cientistas e educadores trabalharãojuntos, mas, uns e outros, respeitando ocampo de ação de cada um dos respec-tivos grupos profissionais e mutuamentese auxiliando na obra comum de descobriro conhecimento e descobrir as possibili-dades de sua aplicação. O método geralde ação de uns e outros será o mesmo,isto é, o “método científico” e, nessesentido, é que todos se podem considerar
homens de ciência. O educador, efeito,estudando e resolvendo os problemas daprática educacional, obedecerá às regras dométodo científico, do mesmo modo queo médica resolve, com disciplina científica,os problemas práticos da medicina:observando com inteligência e precisão,registrando essas observações, descre-vendo os procedimentos seguidos e osresultados obtidos, para que possam serapreciados por outrem e repetidos,confirmados ou negados, de modo que asua própria prática da medicina se façatambém pesquisa e os resultados seacumulem e multipliquem.
Os registros escolares de professôrese administradores, as fichas de alunos, ashistórias de casos educativos, ou descriçõesde situações e de pessoas constituirão oestoque, sempre em crescimento, de dados,devidamente observados e anotados, queirão permitir o desenvolvimento daspráticas educacionais e, conforme jádissemos, suscitar os problemas para oscientistas, que aí escolherão aquêles suscep-tíveis de tratamento científico, para aelaboração das faturas teorias destinadosa dar à educação o status de prática e artecientíficas como já são hoje a medicina e aengenharia. No curso destas considerações,insistimos pela necessidade de demons-tração de nossa posição, na analogia entremedicina e educação. Não sirva isto,contudo, para que se pense que a práticaeducativa possa alcança, a segurança cien-tífica da prática médica. Não creio quejamais se chegue a tanto. A situaçãoeducativa é muito mais complexa do quea médica. O número de variáveis daprimeira ainda é mais vasto do que o dasegunda. Embora já haja médicos com osentimento de que o doente é um todoúnico e, mais, que esse todo compreendenão só o doente,mas o doente e o seu

RSP
259
Anízio Teixeira
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 249-260 Abr/Jun 2007
“meio”, ou o seu “mundo”, o que osaproxima dos educadores, a situaçãoeducativa ainda é mais permanentementeampla, envolvendo o indivíduo em suatotalidade, com todas as variáveis delepróprio e de sua história e de sua cultura eda história dessa cultura, e mais as dasituação concreta, com os sues contem-porâneos e os seus pares, seu professor esua família. A prática educativa exige queo educador leve em sua conta um tão vastoe disperso grupo de variáveis, que,porvàvelmente, nenhum procedimentocientífico poderá jamais ser rigorosamentenela aplicado.
Ainda o mais perfeito método deaquisição, digamos, de uma habilidade, nãopoderá ser aplicado rigidamente. O edu-cador terá de levar em conta que o alunonão aprende nunca uma habilidade isolada;que, simultâneamente, estará aprendendooutras coisas no gênero de gostos, aversões,desejos, inibições, inabilidades, enfimque tôda a situação é um complexo de“radiações, expansões e contrações” nalinguagem de Dewey, não permitindo nemcomportamento uniforme nem rígido.
É importante conhecer todos osmétodos e recursos já experimentados eprovados de ensinar a ler, mas, a sua apli-cação envolve tanta cousa a mais, que omestre, nas situações concretas, é que irásaber até que ponto poderá aplicar o quea ciência lhe recomenda, não no sentidode negá-lo, mas, no sentido de coordená-lo e articulá-lo com o outro mundo defatôres que entram na situação educativa.
Sendo assim, podemos ver quanto afunção do educador é mais ampla do quetôda a ciência de que se possa utilizar. Éque o processo educativo identifica-se comum processo de vida, não tendo outro fim,como insiste Dewey, sinão o própriocrescimento do indivíduo, entendido êsse
crescimento como um acréscimo, umrefinamento ou uma modificação no seucomportamento, como ser humano. Emrigor, pois, o processo educativo não podeter fins elaborados fora dêle próprio. Osseus objetivos se contêm dentro doprocesso e são êles que o fazem educativo.Não podem, portanto, ser elaboradossenão pelas próprias pessoas que parti-cipam do processo. O educador, o mestreé uma delas. A sua participação na elabo-ração dêsses objetivos não é um privilégio,mas a conseqüência de ser, naquele processoeducativo, o participante mais experimen-tado, e, esperemos, mais sábio. Destemodo, a educação não é uma ciênciaautônoma, pois não existe um conhecimentoautônomo de educação, mas é autônomaela própria, como autônomas são as artese, sobretudo, as belas artes, uma delaspodendo ser, ouso dizer e mesmopretender – a educação.
A “ciência” da educação, usando otêrmo com tôdas as reservas já referidasserá constituída na frase de Dewey, de tôdae qualquer porção de conhecimentocientífico e seguro que entre no coração, nacabeça e nas mãos dos educadores e, assimassimilada, tome o exercício da função edu-cacional mais esclarecida, mais humana, maisverdadeiramente educativa do que antes.
Os nossos Centros de pesquisaseducacionais foram criados para ajudar aaumentar os conhecimentos científicos queassim possam ser utilizados pelos educa-dores – isto é, pelos mestres, especialistasde educação e administradores educa-cionais – para melhor realizarem a suatarefa de guiar a formação humana, naespiral sem fim do seu indefinidodesenvolvimento.
O Seminário que ora se encerra foi umprimeiro contato entre os professôres emestres que trabalham nas classes e os que

RSP
260
Ciências e arte de educar
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 249-260 Abr/Jun 2007
trabalham no Centro. Esta aproximaçãotem um sentido: o de associar à pesquisaeducacional o mestre de classe. Na classe éque se realiza a função educativa. E dentroda classe, na cabeça, no coração e nas mãosdo aluno. Todo o trabalho do Centro visa,em última análise, tornar mais rica, maislúcida e mais eficaz essa ação educativa.Nada podemos fazer sem o professor e apesquisa educacional não pode prescindirdo seu concurso.
Se o vosso trabalho se libertar docaráter de trabalho de rotina, de acidenteou de capricho e começardes a registrarpor escrito o vosso esfôrço, a manterfichas cumulativas, descritivas einteligentes, dos alunos, casos-história deexperiências educativas, todo êsse materialpoderá aqui ser estudado, para ver se vospodemos ajudar em vossa tarefa, que
continuará autônoma e, além disto, maisconsciente, mais controlada e maissusceptível de ser repetida e dêste modo,de se acumular e progredir. Nãodesejamos tanto ser aqui no Centro umestado-maior a elaborar planos paraserem cumpridos por autômatos ousemi-autômatos, mas um grupo decolegas a estudar conosco os problemasescolares, com o objetivo de conseguirconhecimentos para que todo o magis-tério possa conduzir com mais autonomiaa sua grande tarefa. Não teremos regrasnem receitas a oferecer, mas buscaremosajudar-vos no instrumental intelectualindispensável à execução de uma das belasartes e a maior: a de educar.
* Foram mantidas a ortografia e aacentuação gráfica da época.
Notas
1 Também o direito não é puramente uma arte formal, mas, não faltam os que o julgam demeramente convencional sinão de arbitrário.
Anízio TeixeiraNascido em Caetité, Bahia, em 1900. Formou-se em Direito pela Universidade do Rio de Janeiro. Em 1924, iniciousua vida pública como inspetor-geral de ensino da Bahia, onde realizou a reforma da instrução pública. Em 1952,acumulou o cargo anterior com o de diretor-geral do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep)e instituiu o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais (CBPE). Em 1963, assumiu a reitoria da UnB, após oafastamento de Darcy Ribeiro. Faleceu em 1971, tendo sua candidatura à Academia Brasileira de Letras interrompida.

RSPPara saber mais
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 261 Abr/Jun 2007 261
Sobre parceiras público-privadas• www.planejamento.gov.br/ppp/
index.htm
• MOORE, Mike. Criando valor público. ENAP/Editora Letras & Expressões/BID, 2000
Sobre saúde do trabalhador• http://conselho.saude.gov.br/wst/
index.htm• www.anamt.org.br/downloads/
relatorio final CNST
Sobre licitações• www.comprasnet.gov.br• TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
Licitações e contratos – orientações básicas. 3o edição. Brasília: TCU, 2006.
Disponível em: <www.tcu.gov.br>.
PPPPPara saber maisara saber maisara saber maisara saber maisara saber mais
Comentários, observações e sugestões sobre a RSP devem ser encaminhados àeditoria da revista, pelo e-mail [email protected] ou por carta, no endereçoSAIS Área 2-A – Sala 116 – 1o andar – CEP: 70610-900 – Brasília, DF, A/C LarissaMamed Hori.
Fale com a RSPFale com a RSPFale com a RSPFale com a RSPFale com a RSP
Sobre Planejamento Plurianual:• www.planejamento.gov.br• www.planobrasil.gov.br
Sobre saúde• www.saude.gov.br• www.sespa.pa.gov.br/Sus/sus.htm
Sobre direitos culturais• www.direitocultural.com.br• www.cultura.gov.br/politicas/
identidade e diversidade/index.html• Brasil. Secretaria Especial de
Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República (SEPPIR). Ordem jurídica e igualdade étnico-racial. PIOVESAN, Flávia; SOUZA, Douglas Martins de. (coord.). Brasília: SEPPIR, 2006

RSP Acontece na ENAP
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2): 262 Abr/Jun 2007262
Acontece na ENAPAcontece na ENAPAcontece na ENAPAcontece na ENAPAcontece na ENAP
12o Concurso Inovação na Gestão Pública Federal
Em 11 anos de realização do Concurso Inovação na GestãoPública Federal, a ENAP com apoio de parceiros como aEmbaixada da França e Cooperação Espanhola, premiou 271experiências. O Concurso, que se encontra em sua 12a edição,constitui uma prática de estímulo à adaptação e disseminação de inovações e atua no níveldo reconhecimento das equipes que desenvolveram a mudança.
Para reforçar o objetivo de estimular a implementação de iniciativas inovadoras degestão, que contribuam efetivamente para a melhoria dos serviços públicos em organi-zações do Governo Federal, esta edição do Concurso passou por uma revisão de seusconceitos e métodos. Definem-se como iniciativas inovadoras mudanças em práticasanteriores, por meio da incorporação de novos elementos da gestão pública ou de umanova combinação dos mecanismos existentes, que produzam resultados positivos parao serviço público e para a sociedade.
As inscrições poderão ser realizadas de 2 de julho a 31 de agosto de 2007.O manual de orientações e a ficha de inscrição estão disponíveis em:
<http://inovacao.enap.gov.br>.
Lançamento
Está previsto para o segundo semestre de 2007, o lançamento do livro Gestão social– como lograr eficiência e impacto nas políticas sociais, de Ernesto Cohen e RolandoFranco. O livro apresenta um modelo de gestão social destinado a melhorar o impactoexterno e a eficiência interna dos programas sociais e analisa os principais problemas dedesenho, avaliação, implementação e monitoramento. Além disso, enfatiza os requisitosindispensáveis para introduzir, desenvolver e manter mecanismos de mercado naprestação de serviços sociais.
Novos cursos
A ENAP, visando ampliar suas ações de capacitação, estáoferecendo novos cursos nas modalidades presencial e a distância.Direcionados para servidores e gestores públicos, muitos dos cursossão gratuitos e, a depender, já se encontram com as inscrições abertas.Entre os novos cursos presenciais, destacam-se o de Gestãoorçamentária, Liderança e gerenciamento e Papel do gerente na gestão do desem-penho da equipe. Já na modalidade de educação a distância, Atendi-mento ao cidadão, BrOffice.org – Impress 2.1, e e-Mag – Modelo deacessibilidade do governo eletrônico. Para mais informações, visiteo site da ENAP.

RSP
Revista do Serviço Público Brasília 58 (2) 263-264 Abr/Jun 2007 263
Normas para osNormas para osNormas para osNormas para osNormas para oscolaboradorescolaboradorescolaboradorescolaboradorescolaboradores
A Revista do Serviço Público aceita trabalhos sempre inéditos no Brasil, na formade artigos, ensaios e resenhas, sobre os seguintes eixos temáticos: 1. Estado e Sociedade,2. Políticas Públicas e Desenvolvimento e 3. Administração Pública.
1. Artigos: deverão ter até 25 páginas e um total de 30 mil a 35 mil caracteres, acompanhados de um resumoanalítico do artigo em português, espanhol e inglês, de cerca de 150 palavras, que permita uma visão global eantecipada do assunto tratado, e de 3 palavras-chaves (descritores) em português, espanhol e inglês queidentifiquem o seu conteúdo. Tabelas, quadros e gráficos, bem como notas devem limitar-se a ilustrarconteúdo substantivo do texto. Notas devem ser devidamente numeradas e constar no final do trabalho e nãono pé da página. Referências de autores no corpo do texto deverão seguir a forma (AUTOR, data). Referênciasbibliográficas devem ser listadas ao final do trabalho, em ordem alfabética, e observar as normas da ABNT.Exemplos:Referências no corpo do texto(ABRUCIO, 1998)Referências bibliográficas
LivroCASTRO, José. Direito municipal positivo. Belo Horizonte: Del Rey, 1999.Artigo em coletâneaGONDIM, Linda. Os ‘Governos das Mudanças’ (1987-1994). In: SOUZA, Simone (org.), Uma nova históriado Ceará. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2000.Artigo em periódicoBOVO, José. Gastos sociais dos municípios e desequilíbrio financeiro. Revista de Administração Pública,Rio de Janeiro, 35(1), p. 93-117, jan/fev, 2001.Monografia, dissertação ou tese acadêmicaCOMASSETTO, Vilmar. Conselhos municipais e democracia participativa sob o contexto dodesenvolvimento sustentável na percepção dos prefeitos municipais. 2000. Dissertação. (Mestrado) –Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal de Santa Catarina.
2. Ensaios e resenhas: deverão ter até 10 páginas e um total de 15 mil a 17 mil caracteres.3. Vinculação institucional: Artigos, ensaios e resenhas devem vir acompanhados de uma breve informação
sobre a formação, vinculação institucional do autor (em até duas linhas) e e-mail para contato.4. Avaliação: a publicação dos textos está sujeita à análise prévia de adequação pela editoria da revista e avaliação por
sistema de “blind review” de 2 a 3 pareceristas, os quais se reservam o direito de sugerir modificações ao autor.5. Encaminhamento: Os originais de todos os trabalhos devem ser encaminhados em arquivo digital, em
formato de uso universal (.doc, .rtf ou .txt) e enviados para [email protected]. Os originais enviados à ENAPnão serão devolvidos. A ENAP compromete-se a informar os autores sobre a publicação ou não de seustrabalhos.
Para mais informações acesse www.enap.gov.br
ENAP Escola Nacional de Administração PúblicaDiretoria de Comunicação e PesquisaSAIS Área 2-A Brasília, DF – CEP 70610-900Tel: (61) 3445 7438 – Fax: (61) 3445 7178E-mail: [email protected]

Revista do Serviço Público Brasília 58 (2) 263-264 Abr/Jun 2007
RSP
264
Para conhecer ou adquirir as publicações ENAP visite o sítio www.enap.gov.br
�����������Governar em rede: o novoformato do setor público
O livro apresenta exemplos, desafios earmadilhas de um novo modelo degovernança, voltado para parcerias,contratos e alianças na prestação de serviçospúblicos.
Educação a distância emorganizações públicas
O livro apresenta o resultado dasdiscussões da segunda mesa-redonda depesquisa-ação, um modelo de fórumde discussão, no qual os atores envolvidos
contribuem com seus conhecimentos eexperiências para a elaboração de umproduto. O livro, além de desafios,soluções e metodologias, também traz osrelatos das experiências em desenvolvi-mento nas organizações participantesda mesa.
Ações premiadas no 11o
Concurso Inovação na GestãoPública Federal
O livro traz, em linguagem clara e de fácilleitura, o relato das dez experiênciaspremiadas na 11a edição do concurso,promovido pela ENAP e pelo Ministériodo Planejamento, Orçamento e Gestão,com o apoio das embaixadas da Espanhae da França. A obra serve de incentivo ereflexão aos gestores que buscam aumentara capacidade de governar.